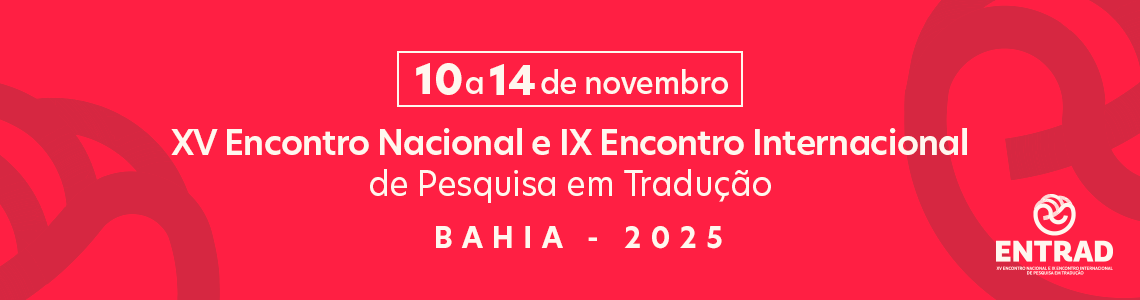SIMPÓSIOS
A escrita da história: tradutoras e tradutores na História e na Historiografia da Tradução
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Russo.
COORDENADORES:
Luciana Carvalho Fonseca (Universidade de São Paulo)
Bruno Barretto Gomide (Universidade de São Paulo)
Karina de Castilhos Lucena (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
TÍTULO: A escrita da história: tradutoras e tradutores na História e na Historiografia da Tradução
RESUMO: A história e a historiografia da tradução no Brasil conta com um acúmulo significativo de conhecimento. Pesquisadores e pesquisadoras de diferentes combinações linguísticas já consolidaram um campo com uma bibliografia consistente e variada, entre os quais Andreia Guerini, Boris Schnaiderman, Bruno Barretto Gomide, Denise Bottmann, Dennys Silva-Reis, Germana Henriques Pereira de Sousa, John Milton, Karina de Castilhos Lucena, Luana Freitas, Luciana Carvalho Fonseca, Lia Wyler, Marie-Heléne Torres, Marlova Aseff, Paulo Rónai, Walter Costa, para citar apenas alguns nomes. Tais produções abrangem diversas perspectivas do campo histórico, seja a partir de suas ‘dimensões’ (História Cultural, História das Mentalidades, História da Cultura Material etc.), de suas ‘abordagens’ com relação ao tipo ou tratamento das fontes (História Oral, História dos Periódicos, História do Discurso etc.) e campo de observação (Micro-História, História Local etc. ); e de seus ‘domínios’ com relação aos ambientes sociais (História da Vida Privada, História das Ideias, História do Teatro, etc.) e agentes históricos (Biografia, História das Mulheres, etc.). A partir dessa amplitude teórico-metodológica, este simpósio acolhe submissões que se ocupem da História da Tradução nas múltiplas dimensões, abordagens e domínios do campo histórico, com destaque para seus agentes dentro da perspectiva da escrita da história; da micro-história e da biografia. Parte considerável desse debate foi sintetizado por Peter Burke em sua vasta obra, mas, para os fins deste simpósio, principalmente em A escrita da História: novas perspectivas (1991) e também por outros autores como Anthony Pym, Christopher Rundle, George Bastin, Jean Deslile, Jeremy Munday, José Antonio Pinilla, José Lambert, Judith Wordsworth, Kathryn Batchelor, Lawrence Venuti, Lieven D'Hulst, Michael Cronin, Paul Bandia, Pascale Casanova, Patricia Willson, Tejaswini Niranjana, Outi Paloposki e Vasiliki Misiou. Este simpósio visa concentrar o debate sobre o papel de tradutores e tradutoras na história a partir de algumas linhas de força: (1) A tradução na história da literatura; (2) História da tradução feminista; (3) A tradução e a imprensa; (4) Os paratextos na história da tradução. O simpósio é proposto por pesquisadoras e pesquisadores que atuam em espanhol, inglês e russo com produção na área de história e historiografia da tradução. Com o intuito de ampliar o alcance da temática e enriquecer as trocas e discussões, incentiva-se a participação em outras línguas e também de áreas afins, como a história, a sociologia e a crítica literária.
PALAVRAS-CHAVE: História da tradução; Biografia; Micro-história; Escrita da história; Tradutores e tradutoras
LÍNGUA: ESPANHOL
TÍTULO: Escritura de la historia: traductoras y traductores en la Historia e Historiografía de la Traducción
RESUMEN: La historia e historiografía de la traducción en Brasil cuenta con acúmulo significativo de conocimiento. Investigadores e investigadoras de distintos pares linguísticos ya consolidaron un campo con bibliografía consistente y variada, entre los cuales Andreia Guerini, Boris Schnaiderman, Bruno Barretto Gomide, Denise Bottmann, Dennys Silva-Reis, Germana Henriques Pereira de Sousa, John Milton, Karina de Castilhos Lucena, Luana Freitas, Luciana Carvalho Fonseca, Lia Wyler, Marie-Heléne Torres, Marlova Aseff, Paulo Rónai, Walter Costa, para citar solamente algunos nombres. Tales producciones comprenden distintas perspectivas del campo histórico, sea a partir de sus ‘dimensiones’ (Historia Cultural, Historia de las Mentalidades, Historia de la Cultura Material etc.), de sus ‘enfoques’ con relación al tipo o tratamiento de las fuentes (Historia Oral, Historia de los Periódicos, Historia del Discurso etc.) y campo de observación (Microhistoria, Historia Local etc. ); y de sus ‘dominios’ con relación a los ambientes sociales (Historia de la Vida Privada, Historia de las Ideas, Historia del Teatro, etc.) y agentes históricos (Biografía, Historia de Mujeres, etc.). A partir de esa amplitud teórica y metodológica, este simposio acoge trabajos que se ocupan de la Historia de la Traducción en las múltiples dimensiones, enfoques y dominios del campo histórico, con destaque para sus agentes en la perspectiva de la escritura de la historia; de la microhistoria y de la biografía. Parte considerable del debate lo sintetizó Peter Burke en su vasta obra, pero, para fines de este simposio, principalmente en New Perspectives on Historical Writing (1991) y por otros autores como Anthony Pym, Christopher Rundle, George Bastin, Jean Deslile, José Antonio Pinilla, José Lambert, Judith Wordsworth, Kathryn Batchelor, Lawrence Venuti, Lieven D'Hulst, Michael Cronin, Paul Bandia, Pascale Casanova, Patricia Willson, Tejaswini Niranjana, Outi Paloposki, Jeremy Munday y Vasiliki Misiou. Este simposio pretende concentrar el debate sobre el rol de traductores y traductoras en la historia a partir de algunas líneas de fuerza: (1) La traducción en la historia de la literatura; (2) Historia de la traducción feminista; (3) La traducción y los medios; (4) Los paratextos en la historia de la traducción. El simposio está propuesto por investigadoras e investigador que actúan en lengua española, inglesa y rusa con producción en el área de historia de la traducción. Con el objetivo de ampliar el alcance de la temática y potenciar la discusión, se estimula la participación de investigadores e investigadoras que se dediquen a otras lenguas o áreas, como la historia, la sociología y la crítica literaria.
PALABRAS CLAVE: Historia de la traducción; Biografía; Microhistoria; Escritura de la historia; Traductoras y traductores
LÍNGUA: FRANCÊS
TITRE: Écrire l’histoire : les traducteurs dans l’histoire et l’historiographie de la traduction
RESUMÉ: L’histoire et l’historiographie de la traduction au Brésil disposent d’une importante accumulation de connaissances. Des chercheurs de différentes combinaisons linguistiques ont déjà consolidé un domaine avec une bibliographie cohérente et variée, parmi lesquels Andreia Guerini, Boris Schnaiderman, Bruno Barretto Gomide, Denise Bottmann, Dennys Silva-Reis, Germana Henriques Pereira de Sousa, John Milton, Karina de Castilhos Lucena, Luana Freitas, Luciana Carvalho Fonseca, Lia Wyler, Marie-Hélène Torres, Marlova Aseff, Paulo Rónai, Walter Costa, pour ne citer que quelques noms. De telles productions couvrent différentes perspectives du champ historique, que ce soit par leurs « dimensions » (Histoire culturelle, Histoire des mentalités, Histoire de la culture matérielle, etc.), leurs « approches » par rapport au type ou au traitement des sources (Histoire orale, Histoire des périodiques, Histoire du discours, etc.) et champ d'observation (Micro-Histoire, Histoire locale, etc.) ; et ses « domaines » en relation avec les environnements sociaux (Histoire de la vie privée, Histoire des idées, Histoire du théâtre, etc.) et les agents historiques (Biographie, Histoire des femmes, etc.). Sur la base de cette largeur théorico-méthodologique, ce symposium accueille des soumissions traitant de l'histoire de la traduction dans les multiples dimensions, approches et domaines du champ historique, en mettant l'accent sur ses agents dans la perspective de l'écriture de l'histoire ; de microhistoire et de biographie. Une partie considérable de ce débat a été résumée par Peter Burke dans son vaste ouvrage, mais, pour les besoins de ce colloque, principalement dans The Writing of History: New Perspectives (1991) et aussi par d'autres auteurs comme Anthony Pym, Christopher Rundle, George Bastin, Jean Deslile, Jeremy Munday, José Antonio Pinilla, José Lambert, Judith Wordsworth, Kathryn Batchelor, Lawrence Venuti, Lieven D'Hulst, Michael Cronin, Paul Bandia, Pascale Casanova, Patricia Willson, Tejaswini Niranjana, Outi Paloposki et Vasiliki Misiou. Ce colloque vise à orienter le débat sur le rôle des traducteurs et traductrices dans l'histoire à partir de quelques lignes de force : (1) La traduction dans l'histoire de la littérature ; (2) Histoire de la traduction féministe ; (3) Traduction et presse ; (4) Paratextes dans l’histoire de la traduction. Le symposium est proposé par des chercheurs qui travaillent en espagnol, anglais et russe avec une production dans le domaine de l'histoire et de l'historiographie de la traduction. Afin d'élargir la portée du sujet et d'enrichir les échanges et les discussions, la participation dans d'autres langues et domaines connexes est encouragée, comme l'histoire, la sociologie et la critique littéraire.
MOTS-CLÉS: Histoire de la traduction; Biographie; Microhistoire; Écriture de l'histoire; Traducteurs
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Writing History: Translators in the History and Historiography of Translation
ABSTRACT: There is significant scholarly production in the fields of Translation History and Translation Historiography in Brazil. Researchers from different language combinations have consolidated a vibrating field with consistent and diverse scholarship, including the works of Andreia Guerini, Boris Schnaiderman, Bruno Barretto Gomide, Denise Bottmann, Dennys Silva-Reis, Germana Henriques Pereira de Sousa, John Milton, Karina de Castilhos Lucena, Luana Freitas, Luciana Carvalho Fonseca, Lia Wyler, Marie-Hélène Torres, Marlova Aseff, Paulo Rónai, Walter Costa, to name but a few. Their work has covered the various perspectives, including the ‘dimensions’ of history (Cultural History, History of Mentalities, History of Material Culture, etc.), its 'approaches' regarding the type or treatment of sources (Oral History, History of Periodicals, History of Discourse, etc.), and fields of observation (Microhistory, Local History, etc.); and its 'domains' concerning social environments (History of Private Life, History of Ideas, History of Theater, etc.) and historical agents (Biography, Women's History, etc.). From this wide theoretical and methodological scope, this symposium welcomes submissions that address the History of Translation in multiple dimensions, approaches, and domains of the historical field, highlighting its agents within the perspective of writing history, microhistory, and biography. A considerable part of the debate has been synthesized by Peter Burke in his extensive work, but for the purposes of this symposium, chiefly in "The Writing of History: New Perspectives" (1991), as well as by other authors such as Anthony Pym, Christopher Rundle, George Bastin, Jean Delisle, José Antonio Pinilla, José Lambert, Judith Woodsworth, Kathryn Batchelor, Lawrence Venuti, Lieven D'Hulst, Michael Cronin, Paul Bandia, Pascale Casanova, Patricia Willson, Tejaswini Niranjana, Outi Paloposki, Jeremy Munday, and Vasiliki Misiou. This symposium aims to focus the debate on the role of translators in history based on some key strands: (1) Translation in the history of literature; (2) History of feminist translation; (3) Translation and the press; (4) Paratexts in the history of translation. The symposium is proposed by researchers working in Spanish, English, and Russian with scholarship in translation history and historiography. To broaden the scope of this symposium and enrich exchanges and discussions, participation in other languages and related fields, such as history, sociology, and literary criticism, is strongly encouraged.
KEYWORDS: History of Translation; Biography; Microhistory; Writing History; Translators
A experiência de quem traduz: abordagens cognitivas, culturais e sociológicas
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Espanhol, Francês, Inglês
COORDENADORES:
Erica L. A. Lima (Universidade Estadual de Campinas)
Lenita Maria Rimoli Pisetta (Universidade de São Paulo)
Cynthia Beatrice Costa (Universidade Federal de Uberlândia)
TÍTULO: A experiência de quem traduz: abordagens cognitivas, culturais e sociológicas
RESUMO: Este simpósio propõe discutir as experiências do tradutor no contexto atual, alinhando abordagens hermenêuticas e o uso de novas tecnologias, e considerando a importância de quem traduz para a expansão de ideias, línguas e culturas em um mundo em que, cada vez mais, máquinas e usuários da internet em geral traduzem inconscientes das implicações éticas dessa prática. Seguimos os passos de Morinaka e Santos (2024), que retomam a observação de Chesterman (2014) de que não há uma subárea específica dedicada a pesquisar as redes de sociabilidade e a subjetividade tradutória. As autoras explicam que Chesterman revisita o clássico “mapa” proposto por James Holmes em 1978 (publicado anos depois com o título de “The name and nature of Translation Studies” (Holmes, 1988)) e, após elencar várias críticas de estudiosos da área a esse modelo de Holmes que lançava a pedra fundamental dos Estudos da Tradução, o autor propõe a adição de uma vertente, os “Estudos do Tradutor”, que poderia se filiar a três dos quatro grandes ramos compreendidos pelos Estudos da Tradução, o cultural, o cognitivo e o sociológico (Chesterman, 2014). Este simpósio pretende se voltar a essa vertente de estudos, colocando em diálogo diferentes abordagens teórico-metodológicas adotadas pelos tradutores, que envolvam seu modus operandi e discussões ideológicas, políticas e institucionais. Algumas perguntas a serem consideradas são: Como quem traduz se coloca hoje com relação à inteligência artificial? Como seu trabalho é beneficiado, ou, ao contrário, prejudicado pela democratização da atividade tradutória auxiliada pela máquina? Como as emoções e os afetos atravessam o trabalho de tradutores? Qual o papel desempenhado por tradutores e tradutoras como agentes políticos na tradução? Com base em estudos de caso, relatos e depoimentos sobre a experiência tradutória em diversos âmbitos, desde a tradução literária até a tradução audiovisual, bem como em reflexões cognitivas e considerações a respeito do uso de ferramentas digitais em tradução, discutiremos questões éticas e políticas implicadas na atitude de quem traduz e em seu ato tradutório.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos do tradutor; Tradutor e inteligência artificial; Ética do tradutor; Subjetividade do tradutor
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: The translator's experience: cognitive, cultural and sociological approaches
ABSTRACT: This symposium proposes to discuss the experiences of translators in today’s context, aligning hermeneutic approaches and the use of new technologies, besides considering the importance of those who translate for the expansion of ideas, languages, and cultures in a world in which, increasingly, machines and internet users translate while unaware of the ethical implications of this practice. We follow in the footsteps of Morinaka and Santos (2024), who revisit Chesterman's (2014) observation that there is no specific sub-area dedicated to researching networks of sociability and translational subjectivity. The authors explain that Chesterman revisits the classic “map” proposed by James Holmes in 1972 (published years later under the title “The name and nature of Translation Studies” (Holmes, 1988)) and, after listing several criticisms by scholars in the field regarding Holmes’ model that laid the cornerstone of Translation Studies, the author proposes the addition of another domain, “Translator Studies,” which could be affiliated with three of the four major branches comprised by Translation Studies: cultural, cognitive, and sociological (Chesterman, 2014). This symposium aims to explore this strand of studies, putting into dialogue different theoretical and methodological approaches adopted by translators, involving their modus operandi and ideological, political, and institutional discussions. Some questions to be considered are: How do translators position themselves today in relation to artificial intelligence? How is their work benefited from or, on the contrary, harmed by the democratization of machine-assisted translation? How do emotions and affectivity permeate the work of translators? What role do translators play as political agents in translation? Based on case studies, reports and testimonies about the translation experience in various areas, from literary translation to audiovisual translation, as well as cognitive reflections and considerations regarding the use of digital tools in translation, we will discuss ethical and political issues involved in the attitude of those who translate and in their translation act.
KEYWORDS: Translator studies; Translator and ethics; Translator and artificial intelligence; Translator and digital tools; Translator subjectivity
A Internacionalização da Literatura Infantojuvenil e o Papel da Tradução Institucional na Construção de Narrativas Globais
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol
COORDENADORES:
Márcia Moura da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Lincoln P. Fernandes (Universidade Federal de Santa Catarina)
TÍTULO: A Internacionalização da Literatura Infantojuvenil e o Papel da Tradução Institucional na Construção de Narrativas Globais
RESUMO: O ENTRAD tem se consolidado como um espaço privilegiado para debates interdisciplinares sobre a tradução em suas múltiplas dimensões. Em edições anteriores, o evento destacou a relevância da tradução institucional e sua relação com o mercado editorial, incluindo discussões sobre a circulação global de obras literárias. O presente simpósio dialoga diretamente com esses temas ao propor uma reflexão sobre a internacionalização da literatura infantojuvenil sob a ótica da tradução institucional. Dessa forma, contribui para o aprofundamento das discussões sobre a intersecção entre tradução, educação e políticas editoriais no cenário global, alinhando-se ao objetivo do evento de estimular o debate sobre encargos de tradução e seus diferentes agentes. A literatura infantojuvenil ocupa um lugar central na formação de leitores e na construção de repertórios culturais que ultrapassam fronteiras nacionais, assim, a proposta é discutir a internacionalização da literatura infantojuvenil como parte do processo mais amplo de internacionalização da educação mundial, explorando o papel da tradução institucional (editoras, órgãos governamentais, redes de cooperação internacional) na mediação, seleção e adaptação dessas obras para diferentes contextos culturais. Diante da crescente circulação global de livros infantojuvenis, a tradução se configura não apenas como um meio de acesso a novas histórias, mas como um processo que influencia valores, estilos e discursos apresentados aos leitores em diferentes línguas e culturas. Nesse sentido, são bem-vindos trabalhos que tragam reflexões sobre a tradução da literatura infantojuvenil no contexto da internacionalização e da formação de repertórios globais, que abordem questões como: i) o impacto da internacionalização na literatura infantojuvenil e o papel da tradução institucional nesse contexto; ii) a influência das editoras e programas institucionais de incentivo à tradução na seleção e circulação de obras infantojuvenis; iii) escolhas tradutórias e suas implicações na adaptação cultural de livros destinados ao público infantojuvenil; iv) interseções entre literatura, tradução e políticas educacionais na formação de leitores globais. REFERÊNCIAS: ALÓS, Anselmo, P.; CARGNELUTTI, Camila M. Literatura Infantojuvenil. Santa Maria: UAB/CTE/UFSM, 2021. COILLIE, Jan van; MCMARTIN, Jack (eds). Children’s literature in translation: texts and contexts. Leuven: Leuven University Press, 2020. EVEN-ZOHAR, Itamar. The position of translated literature within the literary polysystem. Poetics Today, v. 11, n. 1, p. 45-51, 1990. FERNANDES, Lincoln Paulo. Brazilian practices of translating names in children’s fantasy literature: a corpus-based study. 2004. Tese (Doutorado em Estudos da Tradução) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. GAMBIER, Yves; VAN DOORSLAER, Luc (org.). Handbook of translation studies. Amsterdam: John Benjamins, 2016. HEILBRON J.; SAPIRO, G. Por uma sociologia da tradução: balanço e perspectivas. Graphos, v.11, n. 2, p. 13-28, 2009. HUNT, Peter. International companion encyclopedia of children's literature. London: Routledge, 2009. KLINGBERG, Göte. Children's fiction in the hands of the translators. Lund: CWK Gleerup, 1986. LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: uma outra/ nova história. Curitiba: PUCPRESS, 2017. LATHEY, Gillian. The translation of children's literature: a reader. London: Routledge, 2016. NIKOLAJEVA, Maria. Children's literature comes of age: toward a new aesthetic. London: Routledge, 1996. OITTINEN, Riitta. Translating for children. New York: Garland Publishing, 2000. SHAVIT, Zohar. Poetics of children's literature. Athens: University of Georgia Press, 1986. VENUTI, Lawrence. The translator's invisibility: a history of translation. London: Routledge, 1995. ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Editora Global, 1985.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução; Literatura infantojuvenil; Tradução institucional; Internacionalização.
A interpretação comunitária no Brasil
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Libras.
COORDENADORES:
Patrícia Chittoni Ramos Reuillard (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Sabine Gorovitz (Universidade de Brasília)
Teresa Dias Carneiro (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)
TÍTULO: A interpretação comunitária no Brasil
RESUMO: Este Simpósio busca oferecer um panorama do que se tem feito no Brasil, em âmbito acadêmico, público ou privado, na área da Interpretação Comunitária, responsável pela assistência linguística e mediação transcultural junto aos migrantes estrangeiros e nacionais. Além da migração interna já existente, o Brasil vem recebendo, sobretudo a partir da última década, um contingente de imigrantes muito expressivo, que engloba os solicitantes de refúgio, os imigrantes econômicos, os residentes fronteiriços e os visitantes para fins laborais, entre outras categorias. No âmbito do refúgio, por exemplo, segundo o relatório “Refúgio em Números 2024” (OBMigra, 2024), o Brasil recebeu, em 2023, mais de 58 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiados de 150 países. Venezuela, Cuba e Angola encontram-se entre os primeiros países de emigração para nosso país: entre 2011 e 2023, reconhecemos 128.570 refugiados venezuelanos, 4.055 sírios, 1.121 congoleses e também 873 afegãos. De acordo com Silva (2022), a partir dos anos 2010, haitianos e venezuelanos passam a ser os dois principais grupos a ingressar no Brasil: os dados oficiais registram a entrada de 165 mil haitianos. No relatório da Polícia Federal de 2019, disponibilizado pela Casa Civil, consta a chegada de 481.854 imigrantes venezuelanos entre 2017 e 2019, com pedidos de refúgio ou de residência temporária. Em razão dessa afluência massiva, em 2018, o Governo Federal criou a Operac?a?o Acolhida, como uma forma de oferecer “assistência emergencial para o acolhimento de refugiados, refugiadas e migrantes provenientes da Venezuela em situação de maior vulnerabilidade” (R4V, 2019). Embora as instituições públicas tenham o compromisso de atender, acolher e integrar essas populações, assim como as comunidades indígenas com pouca ou nenhuma proficiência em língua portuguesa, a fim de garantir e resguardar seus direitos e contribuir para a redução das desigualdades, preconceitos e xenofobia, evitando que se encontrem alienadas da cidadania em razão das dificuldades de comunicação, ainda há muito a fazer no que diz respeito aos aspectos linguístico-culturais dessa equação. A assistência linguística e a mediação transcultural têm sido objeto de inúmeras iniciativas, sobretudo acadêmicas – como formação de intérpretes comunitários, projetos de pesquisa e extensão (como os projetos Mobilang em várias universidades – UnB, UFPel, UNILA, UFPB, UFRGS e Unicamp), mas elas ainda carecem tanto de institucionalização em todas as esferas de atendimento quanto de capilarização nacional. Nesse sentido, convidamos pesquisadores de Interpretação Comunitária (IC) e aqueles que atuam na área de forma profissional ou mesmo que tenham sido levados a atuar de maneira informal a apresentarem trabalhos referentes aos diferentes campos que abrangem essas questões: políticas linguísticas de acolhimento de migrantes, legislação, direitos linguísticos dos migrantes, refugiados e populações indígenas e quilombolas, formação de intérpretes comunitários, relatos de pesquisa, iniciativas privadas e/ou públicas de atendimento linguístico e cultural a essas populações, entre outras.
PALAVRAS-CHAVE: Interpretação comunitária; Assistência linguística; Mediação transcultural; Direitos linguísticos.
Da (In)visibilidade à Diversidade: Questões de tradução e Autoria
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol.
COORDENADORES:
Valéria Silveira Brisolara (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
Paulo Roberto de Souza Ramos (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
TÍTULO: Da (In)visibilidade à Diversidade: Questões de tradução e Autoria
RESUMO: A tradução é uma prática situada, realizada por pessoas. Assim, a história da tradução se confunde com a da interação humana. Ao longo dessa história, os tradutores e tradutoras têm ocupado diferentes lugares não só nas capas e páginas de livros, mas também na sociedade. Uma aparente invisibilidade discursiva e social dos tradutores e tradutoras, e a consequente valorização dessa invisibilidade, foi identificada e criticada por Venuti, para quem a tradução é uma intervenção cultural (1995). Para outros, como Hermans, a tradução é manipulação (1992). Nesse contexto, traduzir é uma prática autorreflexiva, autoconsciente, dialógica e autoral. Com o advento da IA gerativa, principiou um debate sobre a inserção, o impacto e o uso dessa ferramenta para ampliar as habilidades linguísticas de tradutores e tradutoras, bem como a mudança do papel de quem traduz (PYM; HAO, 2025). Tecnologias como o ChatGPT, surgido em 2023, e o DeepSeek, lançado no início de 2025, são capazes de processar linguagem natural e gerar respostas contextuais. Além de traduzir textos, também podem corrigi-los e melhorá-los, mas para que isso aconteça, precisam dos comandos ou prompts humanos adequados. Considerando que a tendência é que os modelos de IA se tornem ainda mais aprimorados e prevalentes, é premente que se discuta, por um lado, os riscos de ampliação de desigualdades e assimetrias com a repetição de bias/vieses através do uso de algoritmos e o possível apagamento da diversidade, seja ela de gênero, sexual, étnico-racial, geracional, de capacidade, de origem, etc., e, por outro lado, os possíveis danos de uma padronização hegemônica e de silenciamento de vozes e autorias dissidentes. Em tempos de cancelamentos e polarizações, se faz necessário discutir e chamar a atenção para estratégias que garantam uma pluralidade de perspectivas nas práticas tradutórias. Com isso em mente, este simpósio visa acolher trabalhos que abordem questões de autoria e tratem da mudança do papel dos tradutores e tradutoras frente a esse cenário, com foco na manutenção da diversidade e pluralidade de vozes.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução; (In)visibilidade; IA gerativa; Diversidade; Autoria.
Estudos da interpretação: consolidação, dinamicidade e expansão de fronteiras.
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol.
COORDENADORES:
Glória Regina Loreto Sampaio (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Vinicius Martins Flores (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Anelise Freitas Pereira Gondar (Universidade Federal Fluminense)
TÍTULO: Estudos da interpretação: consolidação, dinamicidade e expansão de fronteiras.
RESUMO: Os Estudos da Interpretação, cujos primeiros passos se fizeram sentir a partir dos anos 1960, ganham impulso ao longo das décadas que se seguem e chegam à contemporaneidade marcados por dinamismo e constante evolução. Essa realidade favorece uma reflexão conceitual e teórico-prática que transita entre conhecimentos consolidados e em constante expansão, abrangendo cenários tradutório-interpretativos emergentes, espaços ainda não mapeados, ressignificação das habilidades e competências profissionais, análise crítica do uso de novas tecnologias (GILE, 2024 ), interfaces de cunho social e comunitário, e contextos de atuação carracterizados pela diversidade, alteridade e inclusão. Tais fatores resultam em novos caminhos de pesquisa acerca de questões pedagógicas, metodológicas e pragmáticas, relações de similaridade, distanciamento e aproximação entre as diferentes modalidades e contextos tradutório-interpretativos próprios às línguas orais e línguas de sinais, assim como aplicabilidade de aportes teóricos comuns às duas áreas (SELESKOVITCH, 1991 ). À semelhança das metas e resultados promissores alcançados no ENTRAD 2022, a proposta deste Simpósio é tanto manter seu tradicional foco na vertente das línguas orais, quer nos contextos mais consagrados quer naqueles advindos de época mais recente, quanto abrigar pesquisas sobre interpretação em línguas de sinais, especialmente pesquisas que tenham como objeto intersecções entre a interpretação oral e a interpretação sinalizada, englobando interpretação de conferências, comunitária, jurídica/forense, médica, educacional, estudos e/ou relatos de experiências voltados a questões conceituais ou pragmáticas, formação de intérpretes, abordagens de ensino-aprendizagem multilíngue e multimodal, história da profissão, dentre outras possibilidades. Indicativos promissores entre os estudos desses domínios vêm sendo construídos, no âmbito internacional, nas últimas décadas (NICODEMUS; EMMOREY, 2013 ; GILE; NAPIER, 2020 ) e, no Brasil, em especial, pela organização de eventos conjuntos por especialistas em tradução/interpretação de línguas orais e de sinais. Em suma, pretende-se acolher as interfaces dos Estudos da Interpretação, no sentido mais amplo do termo, incluindo as que tratem de relações comuns ou equidistantes entre línguas orais-auditivas e visuais-gestuais. Pretende-se fomentar um maior diálogo e retroalimentação positiva entre as duas vertentes que leve à ampliação da fortuna crítica da área, tornando-a mais rica e abrangente.
PALAVRAS-CHAVE: Interpretação; Línguas orais; Línguas de sinais; Intersecções; Retroalimentação.
Estudos da interpretação: perspectivas interdisciplinares e contextos emergentes
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Libras, Espanhol, Inglês
COORDENADORES:
Diego Mauricio Barbosa (Universidade Federal de Goiás)
Guilherme Lourenço (Universidade Federal de Minas Gerais)
TÍTULO: Estudos da interpretação: perspectivas interdisciplinares e contextos emergentes
RESUMO: Os Estudos da Interpretação (EI) consolidaram-se como campo interdisciplinar dedicado à investigação dos processos e contextos de mediação linguística e cultural. Desde os anos 1960 e 1970, os EI têm articulado contribuições de áreas como Linguística, Psicologia, Ciências Sociais e, mais recentemente, Ciências Cognitivas e Tecnologias Digitais. Trabalhos como os de Daniel Gile (1995) e Franz Pöchhacker (2001) destacam a relevância de compreender tanto os aspectos cognitivos e discursivos quanto os impactos sociais e éticos que envolvem a prática da interpretação. No Brasil, os EI têm avançado com iniciativas importantes, embora ainda enfrentem desafios. Destacam-se a produção de dissertações e teses em programas de pós-graduação consolidados, a publicação de dossiês temáticos em periódicos acadêmicos de relevância e a organização de eventos voltados para a área. Entre esses eventos, o Congresso sobre Estudos da Interpretação (ConEI), com edições em 2019, 2021 e 2023, tem se estabelecido como espaço central para debates e troca de experiências, promovendo diálogo entre estudos de interpretação em línguas orais e línguas de sinais. Nosso objetivo é criar um espaço interdisciplinar que amplie a compreensão dos fenômenos da interpretação, promovendo o intercâmbio de ideias e o avanço dos EI, tornando-o uma extensão do ConEI. Ao reunir estudos e reflexões que integram diferentes dimensões teóricas e práticas, esperamos contribuir para a consolidação do campo no Brasil e fortalecer o papel da interpretação em um mundo cada vez mais conectado e interdependente. Este simpósio temático tem como objetivo reunir pesquisadores, professores e estudantes interessados na interpretação em suas diversas modalidades e contextos. Esperamos fomentar discussões que contemplem desde contextos amplamente estudados – como interpretação de conferência e interpretação comunitária (educacional, jurídica e em contextos de saúde) – até desafios emergentes, como a interpretação remota, a atuação em contextos de crise, as implicações tecnológicas para a prática (TAV) e questões de gênero, raça, classe e equidade. Convidamos contribuições que abordem a interpretação a partir de perspectivas teórico-metodológicas diversas, incluindo enfoques cognitivos, discursivos, culturais, pedagógicos, sociais ou tecnológicos. Trabalhos que tratem da formação e prática profissional dos intérpretes, bem como das questões éticas e das especificidades da interpretação sem distinções de pares linguísticos e modalidades, são todos bem-vindos.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da interpretação; Formação; Prática; Teoria.
Estudos da tradução e formação de tradutores: abordagens contemporâneas, tecnológicas e interdisciplinares
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Espanhol
COORDENADORES:
Camila Teixeira Saldanha (Universidade Federal de Santa Catarina)
Noemi Teles de Melo (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Maria José Laiño (Universidade Federal da Fronteira Sul)
TÍTULO: Estudos da tradução e formação de tradutores: abordagens contemporâneas, tecnológicas e interdisciplinares
RESUMO: A formação de tradutores tem se consolidado como um campo essencial de investigação teórica e prática no âmbito dos Estudos da Tradução, abrangendo uma multiplicidade de abordagens que dialogam com o ensino, a aprendizagem e as demandas do mercado de trabalho. Desde as décadas de 1980 e 1990, com a criação de cursos de graduação, especialização e pós-graduação, e o fortalecimento da pesquisa acadêmica, destacam-se contribuições como o modelo de competência tradutória do Grupo PACTE, liderado por Amparo Hurtado Albir. Essa abordagem integra competências linguísticas, culturais e estratégicas, propondo práticas pedagógicas que aliam experiência e reflexão para promover a autonomia do estudante no processo tradutório. Por outro lado, Anthony Pym enfatiza a relevância da gestão de risco tradutório, da consciência crítica e ética, além da integração entre teoria e prática, preparando tradutores para enfrentar decisões complexas em contextos diversos. Tais abordagens enfatizam a consciência crítica, a capacidade reflexiva e a ética profissional como elementos centrais na formação de tradutores. Além disso, a teoria funcionalista, representada por Christiane Nord, destaca a importância de análises textuais abrangentes para desenvolver competências que permitam lidar com elementos intratextuais e extratextuais no processo tradutório. No âmbito dessa abordagem, a Teoria do Skopos, proposta por Hans Vermeer e por Katharina Reiss, coloca o objetivo da tradução como princípio central, orientando as escolhas tradutórias em função das necessidades do público-alvo e do contexto sociocultural. Diante deste cenário, este simpósio convida pesquisadores/as, professores/as e estudantes a compartilharem reflexões e experiências relacionadas à formação de tradutores em cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) e pós-graduação. Busca-se abarcar áreas como tradução literária, técnica, audiovisual, jurídica, jornalística, poética, além de práticas de dublagem, legendagem, audiodescrição, localização e interpretação. Também serão bem-vindas contribuições que discutam temas como a intersecção entre tradução e inteligência artificial, o impacto de ferramentas tecnológicas no ensino e na prática tradutória, as relações entre tradução e mercado de trabalho, bem como as metodologias de ensino e a ética profissional. Nosso objetivo é criar um espaço de diálogo interdisciplinar e colaborativo, promovendo a troca de saberes entre diferentes contextos acadêmicos e profissionais, e ampliando as perspectivas sobre a formação de tradutores no mundo contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da tradução; Formação de tradutores; Didática da tradução; Teoria e prática.
LÍNGUA: ESPANHOL
TÍTULO: Estudios de la Traducción y Formación de Traductores: Enfoques Contemporáneos, Tecnológicos e Interdisciplinares
RESUMEN: La formación de traductores se ha consolidado como un campo esencial de investigación teórica y práctica en el ámbito de los Estudios de la Traducción, abarcando una multiplicidad de enfoques que dialogan con la enseñanza, el aprendizaje y las demandas del mercado laboral. Desde las décadas de 1980 y 1990, con la creación de curso de grado, especialización y posgrado, así como con el fortalecimiento de la investigación académica, se destacan contribuciones como el modelo de competencia traductora del Grupo PACTE, liderado por Amparo Hurtado Albir. Este enfoque integra competencias lingüísticas, culturales y estratégicas, proponiendo prácticas pedagógicas que combinan experiencia y reflexión para fomentar la autonomía del estudiante en el proceso traductorio. Por otro lado, Anthony Pym enfatiza la relevancia de la gestión del riesgo traductor, la conciencia crítica y ética, además de la integración entre teoría y práctica, preparando a los traductores para enfrentar decisiones complejas en diversos contextos. Estos enfoques destacan la conciencia crítica, la capacidad reflexiva y la ética profesional como elementos centrales en la formación de traductores. Además, la teoría funcionalista, representada por Christiane Nord, subraya la importancia de los análisis textuales para desarrollar competencias que permitan abordar elementos intratextuales y extratextuales en el proceso traductorio. En el ámbito de esta perspectiva, la Teoría del Skopos, propuesta por Hans Vermeer y Katharina Reiss, establece que el objetivo de la traducción es el principio central, guiando las decisiones traductoras en función de las necesidades del público receptor y del contexto sociocultural. Ante este panorama, este simposio invita a investigadores/as, profesores/as y estudiantes a compartir reflexiones y experiencias relacionadas con la formación de traductores en cursos de grado y posgrado. Se busca abarcar áreas como la traducción literaria, técnica, audiovisual, jurídica, periodística, poética, además de prácticas de doblaje, subtitulación, audiodescripción, localización e interpretación. También serán bienvenidas contribuciones que aborden temas como la intersección entre traducción e inteligencia artificial, el impacto de las herramientas tecnológicas en la enseñanza y la práctica traductora, las relaciones entre traducción y mercado laboral, así como las metodologías de enseñanza y la ética profesional. Nuestro objetivo es crear un espacio de diálogo interdisciplinario y colaborativo, promoviendo el intercambio de conocimientos entre diversos contextos académicos y profesionales, y ampliando las perspectivas sobre la formación de traductores en el mundo contemporáneo.
PALABRAS CLAVE: Estudios de la traducción; Formación de traductores; Didáctica de la traducción; Teoría y práctica.
Estudos Feministas da Tradução: teorias e práticas
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol
COORDENADORES:
Carolina Geaquinto Paganine (Universidade Federal Fluminense)
Vanessa Lopes Lourenço Hanes (Universidade Federal Fluminense / Universidade Federal de Santa Catarina)
Naylane Araújo Matos (Universidade Federal de Rondônia)
TÍTULO: Estudos Feministas da Tradução: teorias e práticas
RESUMO: Os debates feministas no âmbito dos Estudos da Tradução têm encontrado espaços frutíferos para reavaliação do caráter gendrado da tradução, quer no campo da elaboração teórica, quer no campo dos processos tradutórios, há pelo menos três décadas. Os Estudos Feministas da Tradução (EFT) definem-se como uma área dos Estudos da Tradução, com abordagens feministas múltiplas e situadas que lançam luz sobre a tradução (Castro; Sporturno, 2020). Ainda, contituem-se das elaborações acerca da tradução como elemento central à práxis feminista e, portanto, imprescínvel à teoria feminista (Costa, 2003). Desde os enfoques tradicionais chancelados pelo fator canadense (Flotow, 2006) às discussões contemporâneas revisoras de conceitos hegemônicos, os EFT têm alavancado pesquisas nos mais variados contextos linguísticos e geopolíticos, apresentando abordagens e metodologias de cunho histórico, crítico, teórico e prático (Blume, 2010). No Brasil, a prática de tradução feminista se mostra amalgamada à história colonial e à luta das mulheres na reivindicação por melhores condições de vida e pela redemocratização do país frente aos sucessivos ataques sociais e políticos (Matos, 2022). Há pelo menos uma década, vemos o florescer das pesquisas sobre teoria e prática feministas em tradução, bem como a pluralidade da circulação de obras de mulheres e/ou feministas traduzidas. Seus enfoques e produção científica, tais quais os feminismos, são diversos e situados,no sentido compreendido por Haraway (1988), e elucidam os percursos da teoria feminista da tradução e apontam novas possibilidades teórico-práticas. Nesse sentido, este simpósio busca reunir pesquisas que discutam as contribuições dos Estudos Feministas da Tradução, pensando os papéis dos feminismos e das lutas das mulheres na construção e na promoção de saberes via tradução. Assim, convidamos propostas de comunicações que contemplem tópicos como: teorias feministas de tradução; práticas de tradução feminista e inclusiva; retradução feminista; tradução feminista e interseccionalidade; tradução de autoras contra-hegemônicas, tradução de autoras negras e indígenas; tradução feminista LGBTQIA+; historiografia da tradução: tradutoras e autoras traduzidas; crítica feminista de tradução; tradução feminista e processos criativos no campo das artes; feminismos em tradução. Encorajamos perspectivas teóricas do Sul Global e reflexões sobre os limites e possibilidades das teorias vigentes, abordagens dos feminismos interseccional, negro, pós e/ou decolonial, contracolonial, dissidente, transgênero, camponês e popular, comunitário, socialista, dentre outras abordagens contra-hegemônicas.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Feministas da Tradução; Feminismos em Tradução; Feminismos Contra-hegemônicos.
LÍNGUA: ESPANHOL
TÍTULO: Estudios Feministas de Traducción: teorías y prácticas
RESUMEN: Por al menos tres décadas, los debates feministas han encontrado en el ámbito de los Estudios de Traducción un terreno fértil para la reevaluación de la traducción desde una perspectiva de género, tanto en lo que respecta a las construcciones teóricas como a los procesos traductológicos. Los Estudios Feministas de Traducción (EFT) constituyen un área de los Estudios de Traducción basada en enfoques feministas múltiples y situados para arrojar luz sobre la traducción (Castro; Sporturno, 2020). Los EFT defienden la traducción como un elemento central en la praxis feminista, lo que la convierte, por ende, en un componente esencial de la teoría feminista (Costa, 2003). Desde la perspectiva tradicional canadiense (Flotow, 2006) hasta los debates contemporáneos enfocados en revisar conceptos hegemónicos, los ETF han sido la base para estudios en diversos contextos lingüísticos y geopolíticos, introduciendo nuevos enfoques históricos, críticos, teóricos y metodológicos (Blume, 2010). En Brasil, la práctica de la traducción feminista está vinculada con la historia colonial y con las demandas de las mujeres por mejores condiciones de vida, así como con la redemocratización del país frente a sucesivos conflictos sociales y políticos (Matos, 2022). Durante al menos una década, la investigación sobre teoría y práctica de la traducción feminista ha prosperado, al igual que la circulación de numerosas obras escritas por mujeres y/o feministas. Los enfoques de estas escritoras y de su producción académica, al igual que los feminismos mismos, son diversos y situados, según la definición de Haraway (1988), y contribuyen a esclarecer los caminos de la teoría de la traducción feminista, además de señalar nuevas posibilidades teórico-prácticas. Por lo tanto, el objetivo de este simposio es reunir estudios sobre las contribuciones de los EFT, considerando los roles de los feminismos y de las luchas de las mujeres en la construcción y promoción del conocimiento mediado por la traducción. Así, se aceptan propuestas relacionadas con temas como: teorías de la traducción feminista; prácticas de traducción feminista e inclusiva; retraducción feminista; traducción feminista e interseccionalidad; traducción de autoras contrahegemónicas; traducción de autoras negras e indígenas; traducciones feministas LGBTQIA+; historiografía de la traducción: traductoras y autoras en traducción; crítica de la traducción feminista; traducción feminista y procesos creativos artísticos; feminismos en la traducción.
PALABRAS CLAVE: Estudios Feministas de Traducción; Feminismos en Traducción; Feminismos Contrahegemónicos.
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Feminist Translation Studies: theories and practices
ABSTRACT: For at least three decades, feminist debates have found within the scope of Translation Studies fertile ground for the reassessment of gendered translation, both regarding theoretical construes and translation processes. Feminist Translation Studies (FTS) is an area of Translation Studies based on multiple and situated feminist approaches to shed light on translation (Castro; Sporturno, 2020). FTS upholds translation as a central element to feminist praxis, making it, therefore, essential to feminist theory (Costa, 2003). Ranging from the traditional Canadian perspective (Flotow, 2006) to the contemporary debates focused on revising hegemonic concepts, FTS have been the basis for studies in several linguistic and geopolitical contexts, introducing new historical, critical, theoretical and practical approaches and methodologies (Blume, 2010). In Brazil, feminist translation practice is connected with colonial history and with women’s demands for better living conditions, as well as for the redemocratization of the country in face of successive social and political conflicts (Matos, 2022). For at least one decade, research on feminist translation theory and practice has flourished, as well as the circulation of several works authored by women and/or feminists. The focuses of these writers and of their academic production, like feminisms themselves, are diverse and situated, as defined by Haraway (1988), and they help elucidate the paths of feminist translation theory and point out new theoretical-practical possibilities. Therefore, the objective of this symposium is to unite studies on the contributions of FTS, considering the roles of feminisms and of women’s struggles in the construction and promotion of knowledge mediated by translation. Thus, we welcome proposals dealing with topics such as: feminist translation theories; feminist and inclusive translation practices; feminist retranslation; feminist translation and intersectionality; translation of counter-hegemonic female authors; translation of Black and indigenous female authors; LGBTQIA+ feminist translations; translation historiography: female translators and female authors in translation; feminist translation criticism; feminist translation and artistic creative processes; feminisms in translation.
KEYWORDS: Feminist Translation Studies; Feminisms in Translation; Counter-hegemonic Feminisms.
Éticas da tradução
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português
COORDENADORES:
Liliam Cristina Marins (Universidade Estadual de Maringá)
Davi Silva Gonçalves (Unicentro)
TÍTULO: Éticas da tradução
RESUMO: Em um mundo que se encontra em profunda crise, e no qual nossas trocas e interações vêm se tornando cada vez mais efêmeras, eleva-se o papel do(a) tradutor(a) a um plano de suma urgência. Com o colapso ambiental, político e social que pulula em diferentes momentos e contextos globais (Mambrol, 2016), perguntamos-nos se existem possibilidades contra-hegemônicas de relacionar-nos uns com os outros e com o espaço que ocupamos (e depredamos). Agente de transformação ou reiteração, o(a) tradutor(a) se vê na posição de proliferar, potencializar, enfraquecer ou modificar saberes, de acordo com sua própria agenda, ou a agenda das redes da qual ele(a) faz parte (Bruno Latour, 2012). Surge, assim, a necessidade de pensarmos os princípios éticos da tradução. Segundo Esteves (2014), ética se refere à escolha de um modo de agir, o que significa reconhecer que não há uma única forma de tradução que seja considerada a mais correta ou a melhor, pois as éticas se adaptam aos seus contextos histórico-sociais. Convivemos, desta forma, com diferentes éticas, por isso, nenhum sentido ou interpretação estão livres das influências de nossas práticas individuais, coletivas e de nosso lócus enunciativo. Transcultural, o discurso traduzido acaba por (re)produzir mensagens hibridizando vozes e perspectivas inter e hipertextuais (Hermans, 2012). Portanto, e tal qual posto por Anthony Pym (2004), a principal função da tradução é assegurar cooperações legítimas entre as partes envolvidas, de forma a potencializar saberes compartilhados, visibilizar corpos e valorizar diferentes universos simbólicos. Sendo assim, e ciente de que a ideologia do(a) tradutor(a) está inevitavelmente apensada ao processo tradutório (Bakhtin, 1986), esse simpósio convida pesquisadores interessados em discutir os aspectos éticos da tradução em diferentes contextos linguístico-culturais e nos mais diversos gêneros nos quais a tradução opera: legendagem, dublagem, (áudio)descrições, tradução literária, tradução técnica, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Éticas; Tradução; Transformação
Expressões Idiomáticas, cultura e tradução: perspectivas semânticas, multilíngues e contrastivas
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol
COORDENADORES:
Elisa Duarte Teixeira (Universidade de Brasília)
Emiliana Fernandes Bonalumi (Universidade Federal de Rondonópolis)
TÍTULO: Expressões Idiomáticas, cultura e tradução: perspectivas semânticas, multilíngues e contrastivas
RESUMO: Expressões Idiomáticas (EIs), consideradas como “uma unidade lexical complexa que é maior que uma palavra, mas menor que uma sentença, e cujo significado não pode ser apreendido pelo conhecimento do significado de seus elementos" (Gramley e Pátzold, 2003, p. 55), apresentam grande dificuldade para a tradução e para o ensino de línguas. Isso se dá principalmente pela não transparência de seu sentido e porque seu aprendizado só pode ocorrer por meio de repetidas exposições (Mattos, 2001). Também são um entrave para o Processamento da Linguagem Natural (PLN) (Sag et al, 2002), em especial do ponto de vista multilíngue, impactando o desempenho de aplicações linguísticas diversas, como tradutores automáticos, sistemas de geração de texto e fala e de desambiguação de sentido (Korkontzelos et al, 2013; Adewumi et al, 2022). Vários autores consideram as EI como representativas de um conhecimento complexo e aprofundado dos vários aspectos de uma cultura, já que abordam uma multiplicidade de facetas da vida em sociedade, tocando em temas como: alimentos, animais, partes do corpo, trabalho, esportes, cores, personalidade e aparência das pessoas, para mencionar apenas alguns (Rafatbakhsh e Ahmadi, 2019). Por exemplo, é relativamente fácil encontrar um equivalente para “chorar sobre o leite derramado” nas culturas ocidentais – “llorar sobre la leche derramada” (espanhol), “cry over spilt/spilled milk” (inglês), “piangere sul latte versato” (italiano). Mas, e em chinês, onde o leite não é parte tão integral da cultura alimentar, como é no ocidente? E como encontrar EI equivalentes para “enfiar o pé na jaca”, ou para “bring home the bacon”, ou “tener mala uva”, ou “?????' - ji?ng shì l?o de là” (*gengibre mais velho é mais ardido)? Numa época em que a IA permeia praticamente todas as nossas atividades, notadamente a tradução, há um ponto em que as novas tecnologias deixam bastante a desejar: a linguagem figurada, metafórica, com suas motivações sócio-culturais e suas conotações discursivas. Fillmore (1979) chamou de “falante ingênuo” quem faz uma interpretação literal dos itens lexicais que constituem uma EI, seja em sua própria língua, seja numa língua estrangeira (LE). Pois, os sistemas inteligentes atuais padecem dessa “ingenuidade”, e isso fica ainda mais claro em contextos de uso multilíngues, como é o caso da tradução. Para compreender o sentido idiomático de uma EI, pode-se consultar materiais de referência, como dicionários ou a web. Embora haja várias fontes disponíveis, praticamente todas são semasiológicas – partem da expressão (que é preciso, portanto, conhecer de antemão) para o sentido. Mas, ao traduzir, quem produz um texto, falado ou escrito, em sua própria língua ou em LE, faz o caminho inverso: parte dos sentidos que deseja expressar para chegar às EIs – caso em que os materiais semasiológicos não resolvem. Este simpósio objetiva congregar pessoas interessadas em debater as EIs sob o prisma da tradução, mais especificamente da produção textual, abordando-as de diferentes perspectivas semânticas, multilíngues e contrastivas. Trabalhos que contribuam também para sua análise, descrição computacional, ensino ou aprendizagem, discutindo metodologias de identificação, registro e disponibilização de inventários multilíngues serão muito bem-vindos.
PALAVRAS-CHAVE: Expressões idiomáticas; Estudos contrastivos; Fraseologia multilíngue.
Formação de Intérpretes de Línguas de Sinais: diálogo entre pesquisas acadêmicas e a prática em diferentes contextos de atuação
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Libras, Espanhol, Sinais Internacionais.
COORDENADORES:
Janine Soares de Oliveira do Carmo (Universidade Federal de Santa Catarina)
Patrícia Tuxi dos Santos (Universidade de Brasília)
Eduardo Felipe Felten (Universidade de Brasília)
TÍTULO: Formação de Intérpretes de Línguas de Sinais: diálogo entre pesquisas acadêmicas e a prática em diferentes contextos de atuação
RESUMO: O objetivo do simpósio é propor uma articulação com o conhecimento já construído em diferentes contextos de atuação de formação de intérpretes de Línguas de Sinais (LS), como por exemplo, contextos de conferência, a fim de tomar como base referenciais teóricos como o modelo teórico de aquisição da competência tradutória do grupo PACTE (2003) e o modelo dos esforços de Gile (1995), de modo a delinear diretrizes [também] para a formação de intérpretes educacionais. Com relação ao modelo proposto pelo grupo PACTE, consideram-se as aplicações discutidas principalmente em Coimbra Nogueira (2024) e Nogueira e Gesser (2018). Um dos desdobramentos da pesquisa de Coimbra Nogueira (2024) indicam a necessidade de investigar e desenvolver propostas didáticas que estejam alinhadas a perfis profissionais. Assim, temos interesse em agregar pesquisas que discutam a formação de intérpretes de LS em diferentes contextos de atuação. Ao dialogar com profissionais de diferentes áreas, pode-se refletir sobre atribuições destes profissionais em cada contexto e problematizar nomenclaturas e papéis, principalmente na atividade de intérpretes educacionais (Quadros, 2004; Kelman, 2005, 2008). As pesquisas e reflexões sobre os papéis dos intérpretes educacionais aparecem sob diferentes perspectivas no mapeamento realizado por Santos (2013), tendo seu início marcado, pela investigação de Leite (2004) denominada: Os papéis do intérprete de LIBRAS na sala de aula inclusiva. Acreditamos que é ainda necessário discutir sobre estes papéis e que tal reflexão pode ser feita por meio da articulação com as atribuições de intérpretes de LS em outros contextos de atuação. Em suma, estamos interessados em identificar, por meio de trocas profícuas entre pesquisadores/formadores de intérpretes de LS, pontos de convergência e divergência para a formação, com aqueles que também atuam na esfera educacional. Considera-se relevante refletir sobre como os modelos teóricos propostos inicialmente para formação de intérpretes de línguas orais pode ser aplicado no contexto específico de formação dos intérpretes educacionais, uma vez que as pessoas Surdas sinalizantes contam com a atuação destes profissionais ao longo de toda sua trajetória escolar. A partir das experiências entre profissionais/áreas, buscamos (re)estabelecer o diálogo entre as pesquisas acadêmicas e a prática no que se refere à formação para atuar em diferentes contextos.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de intérpretes; Intérpretes de Línguas de Sinais; Libras.
LÍNGUA: ESPANHOL
TÍTULO: Formación de Intérpretes de Lenguas de Señas: diálogo entre la investigación académica y la práctica en diversos contextos profesionales.
RESUMEN: El objetivo de este simposio es proponer una articulación entre distintos contextos de actuación para la formación de intérpretes de lengua de señas (LS). En el campo de la interpretación, surgen necesidades que requieren nuevos objetivos, enfoques y metas, conforme evoluciona la investigación, como ocurre, por ejemplo, en el contexto de la interpretación en conferencias. Dentro de la etapa formativa, encontramos teorías fundamentales como el modelo teórico de adquisición de la competencia traductora del grupo PACTE (2003) y el modelo de esfuerzos de Gile (1995). Sin embargo, la formación en lengua de señas para intérpretes tiene dimensiones específicas que la diferencian de la interpretación en lenguas orales, especialmente en el ámbito educativo. En cuanto al modelo PACTE, nos interesan investigaciones aplicadas, como las de Coimbra Nogueira (2024) y Nogueira y Gesser (2018). En la primera, el autor destaca la necesidad de desarrollar propuestas didácticas según los diferentes perfiles profesionales. Así, nos interesa reunir a investigadores que deseen reflexionar sobre los roles de estos profesionales en diversos contextos de actuación y debatir sobre las nomenclaturas, especialmente en lo que respecta a la labor de los intérpretes educativos (en Brasil, por ejemplo, se puede observar esta discusión en autores como Quadros, 2004; Kelman, 2005, 2008). Creemos que aún es necesario reflexionar sobre estos roles, y esto puede lograrse mediante el análisis de investigaciones en otros contextos de actuación. En este sentido, estamos interesados en identificar tanto los puntos de convergencia como de divergencia entre los intérpretes educativos. Queremos analizar cómo los modelos teóricos inicialmente propuestos para la formación de intérpretes de lenguas orales pueden ser adaptados al contexto específico de la formación de intérpretes educativos, dado que las personas sordas que utilizan lengua de señas requieren la intervención de estos profesionales a lo largo de su trayectoria en la escuela y la universidad. A partir de experiencias interdisciplinarias y profesionales, buscamos (re)establecer el diálogo entre la investigación académica y la práctica, reflexionando sobre la formación necesaria para desenvolverse en diversos contextos.
PALABRAS CLAVE: Formación de intérpretes. Interpretación de lengua de señas. Lengua de señas.
História e historiografia da tradução e da interpretação no Brasil e no mundo
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Francês, Espanhol.
COORDENADORES:
Maria Alice G. Antunes (Universidade Federal da Paraíba)
Dennys Silva-Reis (Universidade Federal do Acre)
TÍTULO: História e historiografia da tradução e da interpretação no Brasil e no mundo
RESUMO: A história da tradução é uma área que pode ser vista como um subcampo repleto de possibilidades inexploradas. Martins e Milton (2010) afirmavam sobre o progresso do campo historiográfico haver “áreas da história da tradução totalmente virgens dentro e fora do Brasil” (p. 5). Para Pagano (2001) e Campos e Hanes (2020), os estudiosos da tradução em geral ainda têm demonstrado pouco interesse no campo da historiografia da tradução. Por outro lado, para Sabio Pinilla, “o ramo histórico tem servido para conferir aos Estudos da Tradução uma base sem a qual o estudo e o ensino da tradução ficariam incompletos” (2015). E acrescenta que a bibliografia da história da tradução tem crescido nos últimos anos embora a discussão acerca da metodologia da pesquisa histórica ainda seja escassa. O crescimento das pesquisas e a base para o estudo e o ensino da tradução mostram a relevância do papel protagonizado por traduções e tradutores na formação e na revitalização de sistemas literários, no progresso das ciências, no contato entre sociedades, na evolução de culturas e línguas em determinado período histórico. Convém ainda mencionar que há uma preocupação recente em recuperar ou reanalisar todo tipo de documento histórico que possa aludir à história da Tradução e da Interpretação, enfatizando, dessa forma, momentos históricos das nações em que os tradutores e intérpretes foram essenciais para os fatos e acontecimentos históricos mundiais e locais. É nesse viés que se vê uma abertura para os métodos iconográfico, comparativista, biográfico, documental, bibliométrico, histórico-oral, entre outros (D’Hulst; Gambier, 2018). Assim, este simpósio acolherá trabalhos inéditos que abordem aspectos metodológicos, teóricos e também estudos de caso acerca da história da tradução e da interpretação no Brasil e em outros sistemas culturais. Acolheremos trabalhos que, em especial, abordem áreas da história da tradução e da interpretação vistas como pouco exploradas ou ainda inauditas acerca dos seguintes temas: história e historiografia da tradução literária, história e historiografia da tradução e da interpretação especializada, história dos textos teóricos nos Estudos de Tradução, a figura do tradutor e do intérprete como agentes culturais, o papel e a relevância de escritores-tradutores, a história da tradução teatral, a figura do(a) tradutor(a) e do(a) intérprete em sistemas minoritários, história da interpretação comunitária, mapeamentos de arquivos tradutórios, história da tradução comparada, história da autotradução e da retradução, história da recepção de traduções, biografia de intérpretes e tradutores(as), história comparada da tradução e da interpretação, ensino de história da tradução, etc. O simpósio não se limita apenas a esses temas; outros temas não comtemplados nesta chamada, mas igualmente importantes para a história da tradução e da interpretação são igualmente benvindos a este simpósio.
PALAVRAS-CHAVE: História e historiografia da tradução; História dos tradutores; História da interpretação; Metodologia da pesquisa histórica; História do
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: History and historiography of translation and interpreting in Brazil and worldwide
ABSTRACT: The history of translation is an area that can be seen as a subfield full of unexplored possibilities. Martins and Milton (2010) stated that there are ‘totally untouched areas of translation history inside and outside Brazil’ (p. 5). For Pagano (2001) and Campos and Hanes (2020), translation scholars in general have shown little interest in the field of translation historiography. On the other hand, for Sabio Pinilla, ‘the historical branch has served to give Translation Studies a basis without which the study and teaching of translation would be incomplete’ (2015). He adds that the bibliography on the history of translation has grown in recent years, although the discussion on the methodology of historical research is still scarce. The growth of research and the basis for the study and teaching of translation show the importance of the role played by translations and translators in the formation and revitalisation of literary systems, in the progress of the sciences, in contact between societies, in the evolution of cultures and languages in a given historical period. It is also worth mentioning that there has been a recent concern to recover or re-analyse all kinds of historical documents that may allude to the history of Translation and Interpreting, thus emphasising historical moments in nations in which translators and interpreters were essential to the development of the world. We can thus see an opening for iconographic, comparative, biographical, documentary, bibliometric and historical-oral methods, among others (D'Hulst; Gambier, 2018). This symposium will therefore welcome unpublished papers that address methodological and theoretical aspects, as well as case studies on the history of translation and interpreting in Brazil and other cultural systems. In particular, we will welcome papers that address areas of the history of translation and interpreting that have been little explored or are still unheard of in the following areas: history and historiography of literary translation, history and historiography of specialised translation and interpreting, history of theoretical texts in Translation Studies, the figure of the translator and interpreter as cultural agents, the role and relevance of writer-translators, the history of theatre translation, the figure of the translator and interpreter in minority systems, the history of community interpreting, mapping translation archives, the history of comparative translation, the history of self-translation and retranslation, the history of the reception of translations, the biography of interpreters and translators, the comparative history of translation and interpreting, the teaching of the history of translation, etc. The symposium is not limited to these topics alone; other topics not covered in this call are equally important for the history of translation.
KEYWORDS: history and historiography of translation; history of translators; history of interpreting; methodology of historical research; history of interpreters.
Interseccionalidade nos Estudos da Tradução e Interpretação da Língua de Sinais (ETILS): emergências teóricas, práticas e profissionais
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Libras, Português, Espanhol.
COORDENADORES:
Marcus Vinicius Batista Nascimento (Universidade Federal de São Carlos / Universidade Federal de Santa Catarina)
Tiago Coimbra Nogueira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Jeffa B. Moreira Santana (Universidade Federal do Espírito Santo)
TÍTULO: Interseccionalidade nos Estudos da Tradução e Interpretação da Língua de Sinais (ETILS): emergências teóricas, práticas e profissionais
RESUMO: Os Estudos da Tradução e Interpretação de Línguas de Sinais (ETILS) constituem-se em um campo emergente que dialoga com os campos disciplinares dos Estudos da Tradução e dos Estudos da Interpretação. No Brasil, as pesquisas em ETILS vem sendo empreendidas desde o início dos anos 2000 primeiramente com temáticas sobre interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em contextos educacionais e, em seguida, com foco na formação de tradutores e intérpretes de Libras/Português (TILSP), na tradução do par Libras-português, nos efeitos de modalidades e nos mais variados contextos de atuação. Com as publicações de leis nacionais voltadas à promoção dos direitos linguísticos, sociais e educacionais de pessoas surdas, as pesquisas em ETILS brasileiros vêm se concentrando em políticas tradutórias e interpretativas, buscando refletir sobre as condições de trabalho dos TILSPs e sobre os direitos linguísticos das pessoas surdas por meio de fundamentações teórico-metodológicas de bases dialógicas, discursivas, interacionais, narrativas, cognitivas e outras. Como as línguas de sinais são de modalidade gesto-espacial-visual, muitas pesquisas de tradução analisam tecnologias, aspectos linguísticos, decisões e soluções tradutórias, além de diferenciações entre traduzir e interpretar de/para/em línguas de sinais brasileiras. No entanto, observamos que ainda há lacunas epistemológicas nas pesquisas dos ETILS brasileiros, por exemplo, com estudos e análises que abarquem a perspectiva interseccional como produção de saberes. As questões de pesquisas só nos inquietam e, por isso, nos questionamos: Como os TILSP sentem opressões de gênero, raça e classe social? De que forma as produções tradutórias em línguas de sinais mais privilegiam corpos-textos brancos e masculinos do que corpas negros/as/es, femininas, dissidentes, travestis e de pessoas trans? Que marcadores e categorias de sexualidade movimentam as mudanças de classe de TILSP? Quais são as diferenças econômicas entre TILSP que atuam em instituições públicas e em empresas privadas? Que privilégios tradutórios e interpretativos subalternizam ou favorecem ouvintes e/ou pessoas surdas TILSP? Quais são as mecânicas institucionais que negligenciam e impedem políticas de equidade de classe dos TILSP? Quais são as lutas de classes de TILSP, histórica e dialógica, discursivamente organizadas em tempos-espaços dos séculos XX e XXI? Estas, possivelmente, são algumas das muitas inquietações de profissionais TILSP e das pesquisas em ETILS. Dessa forma, neste simpósio temático damos boas-vindas a todas as pessoas pesquisadoras que abordam os ETILS, a partir de uma visão interseccional em diálogo com os estudos da racialidade, da contracolonialidade, feministas e de gênero e sexualidades.
PALAVRAS-CHAVE: ETILS; Interseccionalidades; Dissidência corporal; Libras.
Let a thousand flowers bloom! Adaptação e tradução
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol
COORDENADORES:
Silvia Cobelo (Universidade de São Paulo)
John Milton (Universidade de São Paulo)
Marly D'Amaro Blasques Tooge (UFABC)
TÍTULO: Let a thousand flowers bloom! Adaptação e tradução
RESUMO: Thomas Leitch, parodiando Mao Tse-Tung (“Let a hundred flowers bloom”) sugere que não deveríamos colocar fronteiras nas áreas que são “aceitáveis” para as pesquisas nos Estudos da Adaptação (EA). Deveríamos aceitar, além de estudos sobre adaptações de romances para filmes, ópera, peças de teatro ou dança, muitos outros tipos de adaptações, tais como os projetos sugeridos e apresentados pelos alunos de Kamilla Elliott: My students have gone beyond filmmaking to produce adaptations in other media: writing, dramatizing, storyboarding, filming, novelizing, graphic-novelizing, drawing, illustrating, painting, sculpting, set designing, costuming, staging, scoring, puppeteering, acting, dancing, singing, editing, directing, casting, choreographing, gaming, video gaming, and producing marketing materials, film posters, book covers, news articles, political pamphlets, magazine spreads, scrapbooks, and multimedial installations. […] adapting works to Facebook pages, Twitter feeds, YouTube videos, blogs, vlogs, ringtones, and iPad apps (Elliott 2014:77). A EA é uma área nova, com limites ainda indefinidos, abrangendo vários campos: Estudos da Tradução, Cinema, Teatro, Literatura, entre outros. Este simpósio discutirá os conceitos que orientam o campo dos EA e apresentará pesquisas atuais. Entre as questões a serem discutidas estão: a) É possível que tantas áreas como as citadas por Kamilla Elliott possam ser incluídas dentro dos EA? b) Qual é a relação entre os EA e os Estudos da Tradução? A Adaptação não é mais do que um tipo de tradução, como descrita por John Dryden: “Imitation, where “the translator (if now he has not lost that name), assumes the liberty, not only to vary from the words and the sense, but to forsake them both as he sees occasion; and taking only some general hints from the original, to run division on the ground work, as he pleases”. (Kinsley 1956) c) Qual é o relacionamento entre a Transmídia (Intermédia, Míia Digital) e a Adaptação? d) As grandes adaptações de Hollywood e o cinema em geral. e) O conceito da inferioridade das adaptações. f) Até que ponto o tradutor é também adaptador? g) O papel da IA na adaptação. h) Adaptação, Tradução e Censura. i) Adaptação no Teatro. j) Adaptações nas áreas sugeridas por Kamilla Elliott e outras. k) Adaptações dos clássicos (Homero, Shakespeare, Dante, Cervantes, Machado, Molière, etc.) da literatura para outras formas como teatro, filmes, ópera, videogame, dança, música, tradução audiovisual (TAV) novela gráfica, webtoons, literatura digital. l) Os desdobramentos na teoria sobre EA desde A Theory of Adaptation, de Linda Hutcheon (2006) e Adaptation and Appropriation (2005) de Julie Sanders. Serão consideradas propostas sobre esses pontos e outros que tratam das ligações entre os Estudos da Adaptação e os Estudos da Tradução. Referências Elliott, Kamilla. 2014. “Doing Adaptation: The Adaptation as Critic”, in Teaching Adaptation, ed. Cartmell, Deborah, and Imelda Whelehan. Basingstoke. Hutcheon, Linda (2006). A Theory of Adaptation. London. Kinsley, James, ed.. 1956. The Complete Works of John Dryden. New York. Leitch, Thomas. 2012. “Adaptation and Intertextuality, or, What isn’t an Adaptation, and What Does it Matter?”, in ed. Cartmell, Deborah. “A Companion to Literature, Film and Adaptation. Oxford: Blackwell. 233-269.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da adaptação; Transmídia; Mídia digital; Adaptação e Tradução.
O Brasil em tradução: questões afro-indígenas, sociais, políticas em modo de resistência
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Francês
COORDENADORES:
Roberto Carlos de Assis (Universidade Federal da Paraíba)
Germana Henriques Pereira (Universidade de Brasília)
Thiago André dos Santos Verissimo (Universidade Federal do Pará)
TÍTULO: O Brasil em tradução: questões afro-indígenas, sociais, políticas em modo de resistência
RESUMO: Este simpósio propõe um espaço de reflexão sobre o papel da tradução como prática de resistência e mediação cultural em contextos brasileiros marcados por heranças afro-indígenas e dinâmicas políticas de exclusão e resistência. O simpósio busca reunir pesquisadores/as que investigam a tradução como uma ferramenta para o fortalecimento de identidades plurais e o resgate de tradições ameaçadas, enfatizando que a tradução não é apenas um processo linguístico, mas um ato político que participa na luta contra a colonização epistêmica (Smith, 2018) e cultural. A tradução é aqui entendida como uma prática situada, que transcende barreiras linguísticas para incorporar questões de agência, poder e ética, bem como reforçar a pluralidade identitária no Brasil. As propostas poderão contribuir com estudos de caso, análises teóricas ou relatos de projetos que enfoquem a tradução como mediação intercultural e valorizem as práticas que resistem às pressões culturais hegemônicas (Bergamaschi; Menezes; Menezes, 2024) e promovem uma maior representatividade. Assim, serão aceitas propostas que investiguem a tradução como mediação intercultural em contextos indígenas e afro-brasileiros, com interesses específicos que abrangem: i) a história de traduções e de tradutores, destacando a evolução da mediação entre culturas; ii) a análise de como elementos culturais específicos são traduzidos ou adaptados, revelando as estratégias empregadas para respeitar as particularidades de cada cultura (Venuti, 1995; Franco-Aixelá, 2013); iii) a investigação das dinâmicas de poder em traduções entre culturas colonizadoras e colonizadas, explorando a tradução como espaço de resistência às forças de homogeneização cultural; iv) o uso da tradução para preservação e revitalização de línguas ameaçadas; v) a visibilização de novas identidades culturais que surgem a partir do contato linguístico e cultural, consolidando a tradução como um campo de transformação identitária; e vi) a análise de como autores e tradutores lidam com temas de identidade e resistência cultural, refletindo sobre as especificidades das vozes indígenas e afrodescendentes no Brasil. Referências • BERGAMASCHI, Maria Aparecida; MENEZES, Ana Luísa Teixeira de; MENEZES, Magali Mendes de. Metodologias insurgentes de pesquisa: o pensamento indígena em diálogo. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v.18, n.2, p.1-12, mai./ago. 2024. • CONRADO, M. P.; NEVES BARROS, T. DE N. M.. A categoria “afro-indígena” na Amazônia paraense: usos, confluências e ambivalências em debate acadêmico. Horizontes Antropológicos, v. 28, n. 63, p. 227–246, maio 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-71832022000200008 • GOLDMAN, M.. ‘Nada é igual’. Variações sobre a relação afroindígena. Mana, v. 27, n. 2, p. e272200, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-49442021v27n2a200 • FRANCO AIXELÁ, Javier. Itens culturais-específicos em tradução. Tradução de Mayara Matsu Marinho e Roseni Silva. In-traduções, Florianópolis, v. 5, n. 8, p. 185-218, 2013. • SMITH, Linda Tuhiwai. Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas. Tradução de Roberto G. Barbosa. Curitiba: Ed. UFPR, 2018. 239 p. • VENUTI, L. The Translator’s invisibility: a history of Translation. London: Routledge, 1995.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução e resistência; Mediação intercultural; Afro-indígena; Identidades culturais; Línguas ameaçadas
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Brazilian Translation Practices: Exploring Afro-Indigenous, Social, and Political Dimensions of Resistance
ABSTRACT: This symposium offers a space for reflection on the role of translation as a practice of resistance and cultural mediation in Brazilian contexts marked by Afro-Indigenous legacies and political dynamics of exclusion and resistance. It seeks to bring together researchers who explore translation as a tool for strengthening plural identities and rescuing endangered traditions, emphasizing that translation is not merely a linguistic process but a political act engaged in the fight against epistemic (Smith, 2018) and cultural colonization. Translation here is understood as a situated practice that transcends linguistic barriers to incorporate issues of agency, power, and ethics, while reinforcing identity plurality in Brazil. Proposals may include case studies, theoretical analyses, or project reports focusing on translation as intercultural mediation, valuing practices that resist hegemonic cultural pressures (Bergamaschi; Menezes; Menezes, 2024) and promote greater representation. Proposals addressing translation as intercultural mediation in Indigenous and Afro-Brazilian contexts are particularly welcome, with specific interests encompassing: i) the history of translations and translators, highlighting the evolution of mediation between cultures; ii) the analysis of how specific cultural elements are translated or adapted, revealing strategies employed to respect the particularities of each culture (Venuti, 1995; Franco-Aixelá, 2013); iii) the investigation of power dynamics in translations between colonizing and colonized cultures, exploring translation as a site of resistance to forces of cultural homogenization; iv) the use of translation for the preservation and revitalization of endangered languages; v) the visibility of new cultural identities emerging from linguistic and cultural contact, consolidating translation as a field of identity transformation; and vi) the analysis of how authors and translators engage with themes of identity and cultural resistance, reflecting on the specificities of Indigenous and Afro-descendant voices in Brazil. Referências • BERGAMASCHI, Maria Aparecida; MENEZES, Ana Luísa Teixeira de; MENEZES, Magali Mendes de. Metodologias insurgentes de pesquisa: o pensamento indígena em diálogo. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v.18, n.2, p.1-12, mai./ago. 2024. • CONRADO, M. P.; NEVES BARROS, T. DE N. M.. A categoria “afro-indígena” na Amazônia paraense: usos, confluências e ambivalências em debate acadêmico. Horizontes Antropológicos, v. 28, n. 63, p. 227–246, maio 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-71832022000200008 • GOLDMAN, M.. ‘Nada é igual’. Variações sobre a relação afroindígena. Mana, v. 27, n. 2, p. e272200, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-49442021v27n2a200 • FRANCO AIXELÁ, Javier. Itens culturais-específicos em tradução. Tradução de Mayara Matsu Marinho e Roseni Silva. In-traduções, Florianópolis, v. 5, n. 8, p. 185-218, 2013. • SMITH, Linda Tuhiwai. Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas. Tradução de Roberto G. Barbosa. Curitiba: Ed. UFPR, 2018. 239 p. • VENUTI, L. The Translator’s invisibility: a history of Translation. London: Routledge, 1995.
KEYWORDS: Translation and Resistance, Intercultural Mediation, Afro-Indigenous Cultural Identities, Endangered Languages
LÍNGUA: Tupi
TÍTULO: Pindorama nhe’emonhangaba pupé: tapy’yiunabaeté, abatyba, tubixaba mba’e resé nherandaba pupé
RESUMO: Kó moreynhangaba oimombói amõ tekoaba nhemongetasaba marã nhe’emonhangaba rekó nherana rekoábamo tekoabaetá pytérype sekokatúreme pindoramyguara rekoaba pupé tapy’yiunabaeté mba’epuera rupi tubixaba omỹiba’e moromosema resé moromoatã resebé. Aipó moreynhangaba oimono’ong tekokuapotasaretá a’e nã oikuapotaryba’e nhe’emonhangaba mba’e i porupyra tekoesaba moatandábamo, tekoabypy i momburupyra moigosabamo, nã osa’angyba’e nhe’emonhangaba na oiepé nhe’enguapaba rekoaba anhõ ruã, a’ete amõ tubixaba rekoaba omaramonhangyba’e colonização epistemica (Smith, 2018) tekoaba resenduara bé. Nhe’emonhangaba iké tekoábamo asé oikuab, a’e tynysem nhe’enguapaba tatobapy suí toimoiese'ar tekoara, ‘ekatuaba, tekoeté, Pindorama abá rekoesabetá moatãmo. Kó mimomboia e’ikatu nã nhembo’esaba pytybõmo, ta’anga tekoetea’uba koipó mimomboia remimombe’u oma’ẽba’e nhe’emonhangaba resé supi tekoabetá sekokatu moatandábamo tekoabeburusu ratã resé nherandábamo (Bergamaschi; Menezes; Menezes, 2024) tekoé ra’angaba moetesábamo. Emonã, asé oimoryb mimomboia nhe’emonhangaba kuapotasara tekoabetá pytérype sekokatu abaeté tapy’yiunabaeté rekoaba resé, oma’ẽetéba’e sesé: i) nhe’emonhangaba nhe'engerekoara poranduba resé, tekoabetá pytérype sekokatúreme; ii) tekoaba mba’e ra’anga resé marã a’e oinhe’emonhag, a’e oinhe’emonhangaé, sekoaba iabi’õ moetesába rupi. (Venuti, 1995; Franco-Aixelá, 2013) iii) miekuapotara ‘ekatuaba omỹiba’e resé nhe’emonhangaba kuábeme tekoacolonizadora tekoacolonizada pytéra pupé tekoahomogeneização ratã resé nherandaba rekoábamo; iv) nhe’emonhangaba poru resé abanhe’enga i momburupyruera asé serekokatusaba i moingobeiebysaba resé. v) tekoesapysasu repiakukasaba resé a’e o’aryba’e nhe’enguapaba tekoabetá aé o ioesé bykaba bé, tekoaba nhemonhangaba tekoesaba resenduara pupé nhe’emonhangaba mondébeme.vi bé) kuatiasara nhe’engerekoara abé tekoabetá nherana rerekosaba ra’anga resé, abaeté tapy’yiunabaeté nhe’enga é sekoesaba mo’ãngeme Pindorama pupé.
PALAVRAS-CHAVE:
Panorama de pesquisas em Tradução Audiovisual no Brasil e em outros países: análise das práticas tradutórias
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol, Libras
COORDENADORES:
Silvia Malena Modesto Monteiro (Universidade Estadual do Ceará)
Vera Lucia Santiago Araújo (Universidade Estadual do Ceará)
Cláudia Susana Nunes Martins (Instituto Politécnico de Bragança (Bragança, Portugal))
TÍTULO: Panorama de pesquisas em Tradução Audiovisual no Brasil e em outros países: análise das práticas tradutórias
RESUMO: A Tradução Audiovisual (TAV) é um ramo dos Estudos da Tradução que diz respeito à tradução de textos multimodais para outra língua e/ou cultura (BAKER e SALDANHA, 2009). Díaz Cintas (2007) define a TAV como sendo um grupo de sistemas semióticos que, de forma dinâmica, coexistem dentro de uma determinada esfera cultural. Para Gambier (2003), ela engloba: legendagem interlinguística, dublagem, interpretação consecutiva e simultânea, voice over, free commentary, sight translation, tradução de script, surtitling, legendagem intralinguística, legendagem ao vivo e audiodescrição. Já para Franco e Araújo (2011), ela engloba as modalidades de Legendagem para Ouvintes (LO), Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE), surtitling (no Brasil, conhecida como legendagem eletrônica, que é ao vivo e com legendas preparadas anteriormente e em Portugal como legendagem para teatro e ópera), dublagem, voice-over e audiodescrição. Quando falamos de TAV, é importante mencionar que a pesquisa nessa área tem crescido mundialmente nos últimos anos, trazendo novas perspectivas para o estado da arte. Desta forma, este simpósio pretende reunir pesquisas diversas na área da Tradução Audiovisual, em suas várias metodologias (exploratórias, experimentais etc.), tanto no Brasil quanto em outros países. O objetivo principal é apresentar um contraste entres essas pesquisas, ressaltando as várias metodologias aplicadas a cada uma. Como objetivos específicos, pretendemos discutir tanto a literatura referente aos estudos apresentados, bem como os resultados e suas perspectivas futuras. A relevância do simpósio está no fato de que a discussão sobre pesquisas na área de Tradução Audiovisual em todo o mundo amplia a visão sobre o que está sendo produzido por pesquisadores nacionais e internacionais, bem como traz à tona resultados de pesquisas que poderão cooperar com a formação de pesquisadores na área. Desta forma, este simpósio justifica-se como sendo uma contribuição para os estudos relacionados à TAV e, de modo mais geral, para a área geral dos Estudos da Tradução.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução audiovisual; Pesquisas; Contraste; Metodologias.
Pesquisas em tradução e interpretação com metodologias experimentais nos Estudos da Tradução
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Libras, Inglês, Espanhol
COORDENADORES:
Alexandra Frazão Seoane (Universidade Estadual do Ceará)
Patrícia Araújo Vieira (Universidade Federal do Ceará)
TÍTULO: Pesquisas em tradução e interpretação com metodologias experimentais nos Estudos da Tradução
RESUMO: Este simpósio pretende reunir pesquisas que utilizem metodologias experimentais no campo dos Estudos da Tradução, no âmbito da tradução e interpretação em línguas orais e/ou línguas de sinais, relacionando-se também ao ensino, ao processamento e a competência tradutória e a tradução de produtos audiovisuais. O objetivo principal é ampliar discussões sobre metodologias experimentais, o desenho experimental, e ferramentas tecnológicas no monitoramento do processo cognitivo na prática tradutória, na tradução e ensino de línguas estrangeiras e/ou segunda língua, na competência tradutória e na recepção da tradução de produtos audiovisuais. E como objetivos específicos, procuramos revisar a literatura nos estudos citados e ainda discutir os resultados e limitações registrados nas próprias pesquisas. Seguindo os estudos e seus teóricos em processamento cognitivo de tradutores experientes e novatos (Alves, 2002; 2003; Araújo, 2009), competência tradutória (Alves, 2015), os estudos sobre processamento lexical, efeito dos cognatos e da língua materna na prática tradutória (Toassi, 2022; 2023), estudos experimentais sobre tradução e ensino (Lima; Sousa, 2018; Harvey; Vieira; Souza, 2021; Borges, 2006; Borges, 2016; Barbosa, 2009) e em Tradução Audiovisual (De Linde; Kay, 1999; d’Ydewalle et al, 1987; d’Ydewalle; De Bruycker, 2007; Vieira; Araújo, 2017; Vieira; Teixeira; Chaves, 2017; Monteiro; Dantas, 2017; Souza, 2020; Assis, 2021; Oliveira, 2022). A relevância deste simpósio está em ampliar discussões teóricas, de design, de análises sobre as práticas de tradução utilizadas pelos profissionais da área e, dessa forma, contribuir com a formação de tradutores nas diversas áreas dos Estudos da Tradução. Também buscamos abrir mais discussões sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas pelos pesquisadores, como elas podem impactar os experimentos e como podem contribuir para o desenvolvimento de pesquisas experimentais nos estudos da tradução. Além disso, buscamos discutir como o surgimento de novos modos de produção decorrentes das novas tecnologias influencia a prática do tradutor nas diversas áreas do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da tradução; Pesquisas experimentais; Processamento tradutório; Tradução e ensino; Tradução audiovisual.
PRISMAS DA TRADUÇÃO: TRANSFICTION, TRANSBORDAMENTOS, PERSPECTIVAS ADJACENTES E O PENSAMENTO COMPLEXO
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês.
COORDENADORES:
Leila Cristina de Melo Darin (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.)
Paulo Sampaio Xavier de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas.)
Lauro Maia Amorim (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Campus Rio Preto)
TÍTULO: PRISMAS DA TRADUÇÃO: TRANSFICTION, TRANSBORDAMENTOS, PERSPECTIVAS ADJACENTES E O PENSAMENTO COMPLEXO
RESUMO: Para se constituir como área acadêmica autônoma, os Estudos da Tradução tiveram de se emancipar face às disciplinas nas quais seu papel era antes de subárea ou pesquisa topicalizada. Uma vez conquistada a autonomia institucional, cabe perguntar até que ponto a reflexão que hoje se faz nos Estudos da Tradução tem algum impacto nas áreas vizinhas, nas quais se continua não só a traduzir como também a refletir sobre a tradução. Ecoamos aqui um comentário de Ruppert Read (Applying Wittgenstein, 2007), no sentido de que o teste de vitalidade das observações de um filósofo não estaria em seu uso na área de origem, mas antes na aplicação de seu método em outras áreas. Segundo Maurício Cardozo (2020), os estudos da tradução não apenas se fecharam com área autônoma, como também criaram uma compartimentação interna em que uma subárea pouco interage com suas vizinhas. Por outro lado, há certamente iniciativas que procuram fomentar a interlocução com outras disciplinas, como revelam alguns títulos que nos servem de parâmetro: Translation Studies at the Interface of Disciplines (Duarte, Rosa & Seruya 2008); Tradução & (Amorim, Rodrigues & Stupiello 2015); Transfiction and Bordering Approaches to Theorizing Translation (Spitzer & Oliveira 2023); A tale of two disciplines? Philosophy in/on translation (Wilson & Leal 2023). Um diálogo com áreas vizinhas, sem o estabelecimento de hierarquizações, pode ser frutífero por diferentes vias. Há casos como o da transfiction, em que a reflexão sobre o traduzir como elemento constitutivo do texto literário já pode, por si só, ter um impacto positivo na área, ao mostrar que o conhecimento se dá de formas diversas, servindo como profilaxia contra a tentação de ver nos estudos da tradução uma “ciência”, no sentido neopositivista criticado por Maria Tymoczko (2007). No contexto das trocas transdisciplinares que os Estudos da Tradução têm mantido, amplia-se, também, este Simpósio, para questionamentos e reflexões que possam transitar por domínios da reflexão que se abram para questões/situações paradoxais, não apenas no campo dos fenômenos relativos ao traduzir, mas, também, às metodologias dedicadas a lidar com objetos ou problemas que não poderiam ser satisfatoriamente abordados no quadro limitado de binarismos vigentes que tendem a excluir a incerteza, o inesperado e o que não pode ser reduzido a um tipo de simplicidade que faria ouvidos moucos à complexidade do real. Nos Estudos da Tradução, pesquisadores como Kobus Marais e Reine Meylaerts (2019), discutem, à luz do pensamento complexo, a tradução como um fenômeno que se constitui em teias de imprevisibilidade no que se quer previsível, do imponderável no (sistematicamente) ponderado. Nesse contexto, a transficção é um dos elementos que costuram o entrelaçamento entre o “real” da tradução e o seu lado imaginado pela ficção: como a ficção sobre vivências tradutórias e tradutores imaginados poderá, ela mesma, ser a “tradução da tradução real”? Este simpósio propõe a interlocução dos Estudos da Tradução com outros domínios/ epistemologias/saberes e acolhe estudos de caso e contribuições teóricas que possam enriquecer esse debate.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução; Interdisciplinaridade; Transfiction; Interfaces Fronteiriças; Pensamento Complexo
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: PRISMS OF TRANSLATION: TRANSFICTION, OVERFLOWS, ADJACENT PERSPECTIVES, COMPLEXITY THINKING
ABSTRACT: TTo establish itself as an autonomous academic field, Translation Studies had to emancipate itself from the disciplines in which it formerly functioned as a subfield or a topicalized research area. Once institutional autonomy has been achieved, it is worth asking to what extent current reflections within Translation Studies have any impact on neighbouring fields, where translation is not only practiced but also studied. Here, we echo a remark by Rupert Read (Applying Wittgenstein, 2007), suggesting that the test of the vitality of a philosopher's observations lies not in their use within their original field but rather in the application of their method in other areas. According to Maurício Cardozo (2020), Translation Studies has not only established itself as an autonomous field but has also created internal compartmentalization, where subfields interact little with one another. On the other hand, there are certainly initiatives aimed at fostering dialogue with other disciplines, as evidenced by some titles that serve as benchmarks for us: Translation Studies at the Interface of Disciplines (Duarte, Rosa & Seruya 2008); Tradução & (Amorin, Rodrigues & Stupiello 2015); The Routledge Handbook of Translation and Politics (ed. Evans & Fernandez 2018); Transfiction and Bordering Approaches to Theorizing Translation (Spitzer & Oliveira 2023); A tale of two disciplines? Philosophy in/on translation (Wilson & Leal 2023). A dialogue with other areas of knowledge, in a non-hierarchical manner, can be fruitful in different ways. There are cases such as transfiction, where reflection on translation as a constitutive element of literary text can, in itself, have a positive impact on the field, by showing that knowledge occurs in diverse forms, serving as prophylaxis against the temptation to see Translation Studies as a "science," in the neopositivist sense criticized by Maria Tymoczko (2007). In the context of the transdisciplinary exchanges that Translation Studies has maintained, this symposium includes questions and reflections that can move through domains of thought that open up to paradoxical questions/situations, not only in the field of phenomena related to translation, but also to methodologies dedicated to approaching objects or problems that could not be satisfactorily addressed within the limited framework of prevailing binarisms that tend to exclude uncertainty, the unexpected, and what cannot be reduced to a type of simplicity that disregards the complexity of reality. Taking into consideration Complexity Thinking, Translation Studies researchers such as Kobus Marais and Reine Meylaerts (2019) discuss translation as a phenomenon that is constituted in webs of unpredictability in what is intended to be predictable, of the imponderable in the (systematically) pondered. In this context, transfiction is one of the elements that stitch together the intertwining between the "real" of translation and its imagined fictional representation: how can fiction about translation experiences and fictitious translators be the "translation of real translation"? This symposium proposes the dialogue of Translation Studies with other domains/epistemologies/knowledge and welcomes case studies and theoretical contributions that can enrich the debate.
KEYWORDS: Translation Studies; Interdisciplinarity; Transfiction; Bordering Interfaces; Complexity Thinking
Reconfigurando centralidades: tradução e adaptação de línguas não-europeias
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Coreano, Libras.
COORDENADORES:
Patrick Rezende (Universidade Federal do Ceará)
Maria Silvia Cintra Martins (Universidade Federal de São Carlos (PPGL) e Universidade de São Paulo (LETRA).)
Ji Yun Kim (Universidade de São Paulo)
TÍTULO: Reconfigurando centralidades: tradução e adaptação de línguas não-europeias
RESUMO: Os Estudos Pós-Coloniais e os Estudos Culturais (Memmi, 1957; Fanon, 1961; Said, 1978; Bhabha, 1998; Hall, 2003) introduziram no campo dos debates acadêmicos questões fundamentais relacionadas ao poder, às ideologias e às identidades e representações. Esses estudos ampliaram significativamente as possibilidades de pesquisas em áreas tradicionalmente pouco exploradas, tais como raça, gênero, sexualidade, classe social e outras temáticas emergentes dos processos coloniais, incluindo aquelas relacionadas à poética africana, indígena, asiática e das culturas árabes e do Pacífico. Nesse contexto, a tradução assume um papel crucial como ferramenta que opera no interstício das relações de poder, ora perpetuando visões estereotipadas e hierarquizadas dos povos colonizados, ora desconstruindo as perspectivas ocidentais e possibilitando que a história seja recontada e reescrita. Justifica-se, assim, a necessidade cada vez mais urgente de discutir o papel da ética, do político e da poética (Meschonnic, 1988) inerente aos processos tradutórios, ainda dominados por perspectivas e práticas eurocêntricas. A partir de abordagens pós-estruturalistas e pós-coloniais dos Estudos da Tradução (Derrida, 1967; Niranjana, 1992; Appiah, 1993; Baker, 2006; Bandia, 2008), o presente simpósio objetiva agregar pesquisas e reflexões que abordem as diferentes formas de tradução e adaptação em contextos de línguas não europeias, explorando como esses processos contribuem para a descentralização de paradigmas ocidentais. Interessam a este simpósio investigações que discutam os desafios e as especificidades culturais, históricas e políticas envolvidas nos processos tradutórios de produções textuais oriundas de línguas e tradições historicamente marginalizadas no cenário global, contribuindo para as discussões sobre exotização e apagamento identitário, assim como para a problematização da tradução literária. Serão bem-vindos trabalhos que apresentem e discutam projetos e pesquisas que incentivem práticas tradutórias que tenham as línguas e os paradigmas não europeus como centralidade. Nesse sentido, serão muito bem-vindos trabalhos que tematizem, problematicamente, a tradução de textualidades não ocidentais. Portanto, este simpósio se configura como um espaço privilegiado para trabalhos que busquem fortalecer a voz e a visibilidade das línguas e culturas vindas de além do Ocidente, promovendo um diálogo crítico e interdisciplinar que desafie as narrativas hegemônicas e propicie um espaço de ressignificação e valorização das identidades plurais.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Pós-coloniais; Ética; Tradução; Crítica; Plural
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Reconfiguring Centralities: Translation and Adaptation of Non-European Languages
ABSTRACT: Post-Colonial Studies and Cultural Studies (Memmi, 1957; Fanon, 1961; Said, 1978; Bhabha, 1998; Hall, 2003) have introduced fundamental questions related to power, ideologies, identities, and representations into the realm of academic debates. These studies have significantly expanded the possibilities for research in traditionally underexplored areas such as race, gender, sexuality, social class, and other emerging themes from colonial processes, including those related to African, Indigenous, Asian, Arab, and Pacific cultural poetics. In this context, translation assumes a crucial role as a tool that operates within the interstices of power relations, at times perpetuating stereotypical and hierarchical views of colonized peoples, and at other times deconstructing Western perspectives, thereby allowing history to be retold and rewritten. This highlights the increasingly urgent need to discuss the role of ethics, politics, and poetics (Meschonnic, 1988) inherent in translation processes, which are still dominated by Eurocentric perspectives and practices. Drawing on post-structuralist and post-colonial approaches in Translation Studies (Derrida, 1967; Niranjana, 1992; Appiah, 1993; Baker, 2006; Bandia, 2008), this symposium aims to bring together research and reflections addressing different forms of translation and adaptation in the contexts of non-European languages, exploring how these processes contribute to the decentralization of Western paradigms. This symposium is particularly interested in investigations that discuss the challenges and cultural, historical, and political specificities involved in the translation processes of textual productions originating from languages and traditions that have been historically marginalized in the global landscape, contributing to discussions on exoticization and identity erasure, as well as to the problematization of literary translation.Submissions that present and discuss projects and research promoting translation practices centered on non-European languages and paradigms will be highly welcomed. In this regard, we encourage works that critically engage with the translation of non-Western textualities. Thus, this symposium serves as a privileged space for contributions that seek to strengthen the voice and visibility of languages and cultures beyond the West, fostering a critical and interdisciplinary dialogue that challenges hegemonic narratives and creates a space for the re-signification and valorization of plural identities.
KEYWORDS: Post-Colonial Studies; Ethics; Translation; Critique; Plurality
Tecnologias da/na tradução: questões teóricas, práticas e pedagógicas
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão.
COORDENADORES:
Igor Antônio Lourenço da Silva (Universidade Federal de Uberlândia (PPGEL) e Universidade Federal de Minas Gerais (POSLIN))
Francine de Assis Silveira (Universidade Federal de Uberlândia)
Marileide Dias Esqueda (Universidade Federal de Uberlândia (PPGEL))
TÍTULO: Tecnologias da/na tradução: questões teóricas, práticas e pedagógicas
RESUMO: A fim de otimizar seus processos de tradução e garantir a consistência de seus produtos e serviços, as grandes corporações, como IBM e Microsoft, investiram, na década de 1980, no desenvolvimento de ferramentas de tradução assistida por computador. Essas ferramentas permitiam armazenar, gerenciar e reutilizar traduções, tornando os processos mais eficientes. Podemos dizer que é a partir dos anos 1990 que essas ferramentas alcançam a comunidade de tradutores autônomos, que, além de terem de conhecer as línguas e culturas das quais e para as quais traduzem (Costa; Da Silva, 2023), passam a ter de manusear softwares com sofisticadas funcionalidades. É também a partir dessa década que a tradução torna-se um negócio rentável em consequência da globalização do comércio e da expansão da internet, que permitiu que produtos e serviços fossem comercializados em diferentes idiomas em seus respectivos mercados (Esqueda, 2024; Rothwell et al., 2023). A aceleração do comércio global e a necessidade de lançar produtos e serviços em diversos mercados simultaneamente foram paulatinamente exigindo uma reestruturação dos processos de tradução. A tradução colaborativa, facilitada por ferramentas e plataformas online, tornou possível concluir projetos em tempo recorde, mesmo com grandes volumes de texto (Jiménez-Crespo, 2017). A evolução de outras tecnologias, projetadas para apoiar os grandes projetos de tradução, vem igualmente revigorando as discussões sobre o uso de ferramentas para a construção de bancos de dados terminológicos apoiados pela Linguística de Corpus (Delvizio; Silveira, 2021) e de tecnologias de tradução automática acoplada à inteligência artificial. O treinamento de modelos em grandes volumes de dados textuais, ademais, permitiu a criação de sistemas de tradução neural, que superam os tradicionais em precisão e fluidez. A internet desempenhou papel crucial nesse processo, fornecendo, concomitantemente, um volume imenso de dados para treinamento e um meio para a utilização em massa de recursos user-friendly de tradução automática e de inteligência artificial. Diante desse cenário, os tradutores passam a ter que a) desenvolver uma compreensão mais profunda das línguas e culturas, além de habilidades em revisão/pós-edição; b) aprender a utilizar as ferramentas de forma crítica, reconhecendo suas limitações e aprimorando suas capacidades interpretativas e de refinamento linguístico; e c) destacar-se como alternativa mais viável, eficaz e efetiva que o output das máquinas. Nesse contexto, é fundamental (re)pensar a formação de tradutores mais eficientes e proficientes. Assim, este simpósio propõe reunir pesquisadores interessados em refletir sobre como as ferramentas tecnológicas estão sendo integradas ao trabalho do tradutor e à formação de tradutores, aludindo às suas inovações e a seus possíveis impactos no fazer tradutório. Os trabalhos podem abranger estudos de caso, experimentais, exploratórios, teóricos, mercadológicos, dentre outros, sobre: sistemas de memória de tradução; alinhadores; bancos de dados terminológicos; Linguística de Corpus; tecnologias de tradução automática e inteligência artificial; localização de softwares utilitários, educacionais, de entretenimento (games) e de websites; ferramentas de tradução colaborativa; ferramentas voltadas ao gerenciamento de projetos, tecnologias para a produção de tradução audiovisual, dentre outros, desde que enfoquem questões teóricas, práticas e/ou pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias da Tradução; Ferramentas de tradução; Formação de tradutores.
Traduzindo à margem
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Francês, Espanhol, Inglês
COORDENADORES:
Sheila Maria dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina)
Kall Lyws Barroso Sales (Universidade Federal de Alagoas)
TÍTULO: Traduzindo à margem
RESUMO: A tradução sempre foi uma prática seletiva. Nenhum país, a nosso conhecimento, teve absolutamente toda sua produção intelectual traduzida para outra língua. Em geral, apenas uma parcela de sua produção bibliográfica é traduzida, e a proporção de obras traduzidas varia entre os países, de acordo com seu prestígio no cenário mundial, ou seja, envolve questões de poder, conforme aponta Pascale Casanova, na obra La République mondiale des letres (2021), ao discorrer sobre o universo literário mundial e suas estruturas desiguais. Nesse sentido, convém recordar, igualmente, que é através das premiações francesas que muitos autores têm seu nome reconhecido mundialmente como Édouard Glissant, que recebe o prêmio Renaudot, em 1958, pela obra La Lézarde. Essa mesma França também é responsável pelas publicações de Maryse Condé, de Aimé Césaire, de Frantz Fanon (Sales, 2022). Nos entremeios destas literaturas por muito tempo marginalizadas, identificamos narrativas do cotidiano, denúncias de problemas sociais, enfrentamentos políticos, literaturas que não estiveram em muitos circuitos literários. Neste cenário de “capital literário” (Casanova, 2002), podemos evidenciar o papel fundamental da tradução nos sistemas literários como um inegável fenômeno linguístico e cultural de diálogo entre as literaturas nestas “operações de tradução” (Veldwachter, 2012). Sabemos que a tradução, historicamente, teve uma função de apropriação e assimilação, vide o caso dos clássicos gregos e latinos, portanto, repensar o lugar da tradução, as escolhas das obras que serão traduzidas, de quais línguas se traduz, para quais línguas se traduz, quais autores, e aqui o uso do universal masculino não é mera coincidência, faz-se extremamente necessário. Por isso, o objetivo desse simpósio é a de repensar a noção de cânone das literaturas traduzidas, repensar as relações de poder, o lugar do centro e da periferia nos mapas-múndi literários e o papel da tradução nessa dinâmica. Abre-se, portanto, a trabalhos que tratem da tradução de obras que não ocupem o lugar hegemônico na história, obras que historicamente não são traduzidas, ou raramente o são, como a literatura de autoria LGBTQIA+, de autoria negra, de mulheres, de indígenas, e de todas as classes que se sobressaem à figura do cânone essencialmente masculino, europeu, branco, cisgênero. Abstract: Translation has always been a selective practice. To our knowledge, no country has had its entire intellectual output translated into another language. Generally, only a portion of a country's bibliographic production is translated, and the proportion of translated works varies across nations, depending on their prestige on the global stage. In other words, it involves issues of power, as Pascale Casanova points out in La République mondiale des lettres (2021) when discussing the global literary universe and its unequal structures. In this sense, it is also worth remembering that it is through French literary awards that many authors have gained worldwide recognition, such as Édouard Glissant, who received the Renaudot Prize in 1958 for La Lézarde. This same France has also been responsible for the publication of works by Maryse Condé, Aimé Césaire, and Frantz Fanon (Sales, 2022). Among these long-marginalized literatures, we find narratives of everyday life, denunciations of social issues, political resistance—literatures that have not been part of many mainstream literary circuits. Within this scenario of "literary capital" (Casanova, 2002), we can highlight the fundamental role of translation in literary systems as an undeniable linguistic and cultural phenomenon, fostering dialogue between literatures through these "translation operations" (Veldwachter, 2012). Historically, translation has often served as a tool for appropriation and assimilation—consider, for instance, the case of Greek and Latin classics. Therefore, rethinking the role of translation, the selection of works to be translated, the source and target languages, and which authors are chosen—where the use of the universal masculine here is no mere coincidence—is of utmost importance. Thus, the aim of this symposium is to reconsider the notion of the canon in translated literatures, to rethink power relations, the place of the center and the periphery in literary world maps, and the role of translation in this dynamic. It invites works that address the translation of literary works that do not occupy a hegemonic place in history—works that have historically been excluded from translation or have rarely been translated—such as literature by LGBTQIA+ authors, Black authors, women, Indigenous writers, and all voices that challenge the traditionally masculine, European, white, cisgender canon.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução literária; Margem; Cânone.
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Translating from the Margins
ABSTRACT: Translation has always been a selective practice. To our knowledge, no country has had its entire intellectual output translated into another language. Generally, only a portion of a country's bibliographic production is translated, and the proportion of translated works varies across nations, depending on their prestige on the global stage. In other words, it involves issues of power, as Pascale Casanova points out in La République mondiale des lettres (2021) when discussing the global literary universe and its unequal structures. In this sense, it is also worth remembering that it is through French literary awards that many authors have gained worldwide recognition, such as Édouard Glissant, who received the Renaudot Prize in 1958 for La Lézarde. This same France has also been responsible for the publication of works by Maryse Condé, Aimé Césaire, and Frantz Fanon (Sales, 2022). Among these long-marginalized literatures, we find narratives of everyday life, denunciations of social issues, political resistance—literatures that have not been part of many mainstream literary circuits. Within this scenario of "literary capital" (Casanova, 2002), we can highlight the fundamental role of translation in literary systems as an undeniable linguistic and cultural phenomenon, fostering dialogue between literatures through these "translation operations" (Veldwachter, 2012). Historically, translation has often served as a tool for appropriation and assimilation—consider, for instance, the case of Greek and Latin classics. Therefore, rethinking the role of translation, the selection of works to be translated, the source and target languages, and which authors are chosen—where the use of the universal masculine here is no mere coincidence—is of utmost importance. Thus, the aim of this symposium is to reconsider the notion of the canon in translated literatures, to rethink power relations, the place of the center and the periphery in literary world maps, and the role of translation in this dynamic. It invites works that address the translation of literary works that do not occupy a hegemonic place in history—works that have historically been excluded from translation or have rarely been translated—such as literature by LGBTQIA+ authors, Black authors, women, Indigenous writers, and all voices that challenge the traditionally masculine, European, white, cisgender canon.
KEYWORDS: Literary translation; Margins; Canon.
TRADUZIR O TEATRO: experiência coletiva, artística e acadêmica.
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Espanhol, Italiano
COORDENADORES:
Anna Palma (Universidade Federal de Minas Gerais)
Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (Universidade Federal de Minas Gerais.)
Tereza Pereira do Carmo (Universidade Federal da Bahia)
TÍTULO: TRADUZIR O TEATRO: experiência coletiva, artística e acadêmica.
RESUMO: Em 2007,[1] o dramaturgo, ator e diretor Rafael Spregelburd se pergunta: “O que está em jogo na tradução teatral?” e imediatamente responde “A vida, é claro. (...) a vida do texto: tudo o que torna possível que as palavras escritas possam traduzir a complexidade da vida.” O dramaturgo, professor e tradutor Douglas Langworthy,[2] no mesmo Journal, afirmou: “No teatro, as palavras são apenas uma das formas de transmitir a informação; há também, claro, imagens e sons que afetam a experiência do espectador. Mas no reino das ideias, as palavras fazem a maior parte do trabalho. Ouvir as palavras de um dramaturgo como parte de uma produção teatral é bem diferente de ler o mesmo texto em uma página.” Isto ocorre, cremos, em razão de “toda escrita, na verdade todos os atos de linguagem, dizer[em] duas coisas simultaneamente: dictum e modus” (Spregelburd, 2007, p. 373). Avishek Ganguly (2024)[3] em retrospectiva comenta que “A virada dos estudos da tradução na literatura comparada e nos estudos culturais no meio acadêmico anglo-americano na década de 1990 foi marcada por um florescimento de escritos com inflexão teórica sobre a prática da tradução que se estendeu até a década seguinte.” E “[a]inda que esta conversa transdisciplinar acerca da tradução florescesse, o campo dos estudos do teatro e da performance permaneceu, curiosamente, hesitante e sem se envolver de maneira direta e substancial. Maior discussão sobre teatro e tradução visaria o ato literal de transmitir um texto teatral de uma língua para outra para publicação ou na proverbial transferência de ‘página para palco’, uma metáfora para o ato de executar um roteiro escrito” (Ganguly, 2024, p. 12). Este Simpósio pretende constituir-se como exceção, proposta inicial de formação do grupo de Tradução de Teatro (GTT/CNPq) composto por acadêmicos e artistas da cena. Assim, como pesquisadoras do GTT/CNPq, investimos na importância de abordagens multidisciplinares e artísticas, coletivas e individuais, entorno dos estudos de tradução teatral, enfatizando o trabalho colaborativo, os exercícios críticos e práticos e a importância dos elementos de produção e realização da cena. Queremos promover a tradução teatral como uma área de pesquisa que envolve a literatura, as artes cênicas e os estudos de tradução; pensamos, ao mesmo tempo, na importância que essa metodologia tem para a formação de tradutores desse gênero[4] (tanto em obras clássicas e canônicas quanto contemporâneas e experimentais, de qualquer idioma e cultura). Assim, convidamos pesquisadoras e pesquisadores a participarem do nosso simpósio para apresentarem pesquisas acadêmicas e/ou artísticas, em andamento ou concluídas, acerca da tradução do texto teatral para a cena. [1] Life, of Course. Theatre Journal: Theatre and Translation, vol. 59, n. 3, 2007, p. 373-377. [2] Why Translation Matters. Theatre Journal: Theatre and Translation, vol. 59, n. 3, 2007, p. 379-381. [3] Theatre Journal: Theatre and Translation, Again, Volume 76, Number 2, 2024,. E-11-E-15. [4] Barbosa, Tereza Virgínia R.; Palma, Anna e Chiarini, Ana Maria. (orgs.). Teatro e tradução de teatro: Estudos. Belo Horizonte: Relicário Edições, 2017, 304 p.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos da tradução; Tradução de teatro; Literatura; Artes cênicas.
LÍNGUA: ESPANHOL
TÍTULO: TRADUCIR EL TEATRO: experiencia colectiva, artística y académica.
RESUMEN: En 2007, [1] el dramaturgo, actor y director Rafael Spregelburd se pregunta: “¿Qué está en juego en la traducción teatral?” y responde inmediatamente “La vida, por supuesto. (...) la vida del texto: todo lo que hace posible que las palabras escritas puedan traducir la complejidad de la vida.” El dramaturgo, profesor y traductor Douglas Langworthy, [2] en el mismo Journal, afirmó: “En el teatro, las palabras son solo una de las formas de transmitir la información; también están, por supuesto, las imágenes y los sonidos que afectan la experiencia del espectador. Pero en el reino de las ideas, las palabras hacen la mayor parte del trabajo. Escuchar las palabras de un dramaturgo como parte de una producción teatral es muy diferente a leer el mismo texto en una página.” Esto ocurre, creemos, porque “toda escritura, en realidad todos los actos de lenguaje, dicen dos cosas simultáneamente: dictum y modus” (Spregelburd, 2007, p. 373). Avishek Ganguly (2024) [3] en retrospectiva comenta que “el giro de los estudios de la traducción en la literatura comparada y en los estudios culturales en el ámbito académico angloamericano en la década de 1990 estuvo marcado por un florecimiento de escritos con inflexión teórica sobre la práctica de la traducción que se extendió hasta la siguiente década.” Y “aunque esta conversación transdisciplinaria sobre la traducción floreciera, el campo de los estudios del teatro y de la performance permaneció, curiosamente, vacilante y sin involucrarse de manera directa y sustancial. La mayor discusión sobre teatro y traducción se centraría en el acto literal de transmitir un texto teatral de un idioma a otro para su publicación o en la proverbial transferencia de ‘página a escenario’, una metáfora para el acto de ejecutar un guion escrito” (Ganguly, 2024, p. 12). Este Simposio pretende constituirse como excepción, propuesta inicial de formación del grupo de Traducción de Teatro (GTT/CNPq) compuesto por académicos y artistas de la escena. Así, como investigadoras del GTT/CNPq, apostamos en la importancia de enfoques multidisciplinarios y artísticos, colectivos e individuales, en torno a los estudios de traducción teatral, enfatizando el trabajo colaborativo, los ejercicios críticos y prácticos y la importancia de los elementos de producción y realización de la escena. Queremos promover la traducción teatral como un área de investigación que involucra la literatura, las artes escénicas y los estudios de traducción; pensamos, al mismo tiempo, en la importancia que esta metodología tiene para la formación de traductores de este género [4] (tanto en obras clásicas y canónicas como contemporáneas y experimentales, de cualquier idioma y cultura). Así, invitamos a investigadoras e investigadores a participar en nuestro simposio para presentar investigaciones académicas y/o artísticas, en curso o concluidas, sobre la traducción del texto teatral a la escena. [1] Life, of Course. Theatre Journal: Theatre and Translation, vol. 59, n. 3, 2007, p. 373-377. [2] Why Translation Matters. Theatre Journal: Theatre and Translation, vol. 59, n. 3, 2007, p. 379-381. [3] Theatre Journal: Theatre and Translation, Again, Volume 76, Number 2, 2024,. E-11-E-15. [4] Barbosa, Tereza Virgínia R.; Palma, Anna e Chiarini, Ana Maria. (orgs.). Teatro e tradução de teatro: Estudos. Belo Horizonte: Relicário Edições, 2017, 304 p.
PALABRAS CLAVE: Estudios de la traducción; Traducción de Teatro; Literatura; Artes Escénicas.
LÍNGUA: ITALIANO
TITOLO: TRADURRE IL TEATRO: esperienza collettiva, artistica e accademica.
ABSTRACT: Nel 2007[1], il drammaturgo, attore e regista Rafael Spregelburd si chiede: “Cosa c’è in gioco nella traduzione teatrale?” e risponde immediatamente: “La vita, naturalmente. (...) la vita del testo: tutto ciò che rende possibile che le parole scritte possano tradurre la complessità della vita.” Sempre nel Journal, il drammaturgo, docente e traduttore Douglas Langworthy[2] afferma: “Nel teatro, le parole sono solo una delle forme per trasmettere l’informazione; ci sono anche, ovviamente, immagini e suoni che influenzano l’esperienza dello spettatore. Ma nel regno delle idee, le parole fanno la maggior parte del lavoro. Ascoltare le parole di un drammaturgo come parte di una produzione teatrale è molto diverso dal leggere lo stesso testo su una pagina.” Ciò avviene, crediamo, perché “ogni scrittura, o meglio ogni atto linguistico, dice due cose simultaneamente: dictum e modus” (Spregelburd, 2007, p. 373). Avishek Ganguly, (2024)[3], in retrospettiva commenta che “La svolta degli studi sulla traduzione nella letteratura comparata e negli studi culturali nel mondo accademico angloamericano degli anni ’90 è stata segnata da un fiorire di scritti a impronta teorica sulla pratica della traduzione protrattosi fino al decennio successivo.” E “nonostante questo dialogo transdisciplinare sulla traduzione prosperasse, il campo degli studi del teatro e della performance rimase, curiosamente, esitante e senza un coinvolgimento in modo diretto e sostanziale. Un dibattito più ampio su teatro e traduzione avrebbe focalizzato l’atto letterale di trasmettere un testo teatrale da una lingua all’altra per la pubblicazione o il trasferimento proverbiale ‘dalla pagina al palcoscenico’, una metafora dell’atto di eseguire un copione scritto” (Ganguly, 2024, p. 12). Questo Simposio intende costituirsi come eccezione, proposta iniziale per la formazione del gruppo di Traduzione Teatrale (GTT/CNPq), composto da accademici e artisti della scena. In quanto ricercatrici del GTT/CNPq, investiamo sull’importanza di approcci multidisciplinari e artistici, collettivi e individuali, intorno agli studi sulla traduzione teatrale, enfatizzando il lavoro collaborativo, gli esercizi critici e pratici e l’importanza degli elementi di produzione e realizzazione della scena. Vogliamo promuovere la traduzione teatrale come un’area di ricerca che coinvolge la letteratura, le arti sceniche e gli studi sulla traduzione; pensiamo, allo stesso tempo, all’importanza di questa metodologia per la formazione di traduttori di questo genere[4] (sia per opere classiche e canoniche che contemporanee e sperimentali, di qualsiasi lingua e cultura). Pertanto, invitiamo ricercatrici e ricercatori a partecipare al nostro simposio per presentare ricerche accademiche e/o artistiche, in corso o concluse, relative alla traduzione del testo teatrale per la scena. [1] Life, of Course. Theatre Journal: Theatre and Translation, vol. 59, n. 3, 2007, p. 373-377. [2] Why Translation Matters. Theatre Journal: Theatre and Translation, vol. 59, n. 3, 2007, p. 379-381. [3] Theatre Journal: Theatre and Translation, Again, Volume 76, Number 2, 2024,. E-11-E-15. [4] Barbosa, Tereza Virgínia R.; Palma, Anna e Chiarini, Ana Maria. (orgs.). Teatro e tradução de teatro: Estudos. Belo Horizonte: Relicário Edições, 2017, 304 p.
PAROLE CHIAVE: Studi sulla traduzione; Traduzione di Teatro; Letteratura; Arti sceniche.
Tradução de humor: perspectivas teóricas e práticas
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Espanhol, Francês, Inglês, Português.
COORDENADORES:
Tiago Marques Luiz (Universidade Federal da Grande Dourados)
Mirian Ruffini (Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Campus Londrina))
TÍTULO: Tradução de humor: perspectivas teóricas e práticas
RESUMO: A tradução de humor é uma área complexa e fascinante que continua a desafiar tradutores, linguistas e acadêmicos em todo o mundo. Pensando nisso, propomos o simpósio “Tradução de Humor: Perspectivas Teóricas e Práticas”, com o objetivo de criar um espaço para discussões aprofundadas e troca de experiências sobre os desafios e metodologias envolvidos nessa prática única. O humor é uma forma de expressão universal, mas seu significado e impacto variam de acordo com o contexto cultural e linguístico. A transposição do humor de uma língua para outra exige mais do que habilidade técnica; requer uma compreensão profunda das nuances culturais e da percepção local de humor. A literatura acadêmica sobre tradução de humor é enriquecida por autores renomados que exploram o tema sob diferentes perspectivas. Salvatore Attardo (2002; 2014; 2020), por exemplo, é uma referência fundamental, oferecendo insights sobre como elementos humorísticos podem ser analisados e traduzidos sem perder sua eficácia. Sua obra sobre os mecanismos de humor e a Teoria Geral do Humor Verbal (GTVH) fornece um framework analítico que permite a tradutores entenderem como os diferentes componentes do humor podem ser adaptados entre línguas e culturas. Essas análises são particularmente úteis para compreender as escolhas feitas durante o processo tradutório e para avaliar até que ponto essas decisões são eficazes em manter a essência do humor original. Delia Chiaro (1992, 2010, 2012, 2017) é outra figura proeminente na área, reconhecida por seus estudos sobre o humor em contextos literários, audiovisuais e digitais, e as dificuldades da tradução de trocadilhos, piadas e referências culturais. Seus trabalhos destacam a importância de manter a comicidade original, mesmo quando a literalidade da mensagem é sacrificada. Chiaro enfatiza que a tradução de humor em filmes e séries requer abordagens criativas que possibilitem a preservação do efeito cômico para audiências internacionais, especialmente na legendagem e dublagem. Isso ressalta a relevância de analisar as escolhas tradutórias específicas para compreender como a comicidade é mantida ou transformada em diferentes contextos. Patrick Zabalbeascoa (2019, 2020, 2024) é outra referência, com ênfase na tradução audiovisual. Zabalbeascoa discute a importância de considerar o humor como um componente integrado a outras camadas textuais e visuais, sublinhando como as restrições técnicas de mídias como o cinema e a televisão influenciam as estratégias de tradução. Sua abordagem destaca a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a fidelidade ao material original e as adaptações culturais que garantam que o humor seja eficaz para a audiência-alvo. Este simpósio busca reunir estudiosos para discutir a complexidade dessa área e analisar as escolhas tradutórias, visando enriquecer o campo de estudo e ampliar a compreensão sobre as diferentes abordagens adotadas na prática tradutória. Para isso, serão abordadas pesquisas em inglês, português, espanhol e francês, que trazem perspectivas distintas sobre as estratégias de tradução e adaptação de humor. A inclusão de diferentes mídias, além da literatura, permite explorar como os tradutores enfrentam os desafios impostos por códigos visuais, contextos performativos e elementos multimodais que enriquecem a experiência humorística e criam novas demandas para a prática da tradução.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução de humor; Adaptação cultural; Humor verbal; Trocadilhos e piadas; Tradução audiovisual.
LÍNGUA: ESPANHOL
TÍTULO: Traducción de Humor: Perspectivas Teóricas y Prácticas
RESUMEN: La traducción del humor es un área compleja y fascinante que sigue desafiando a traductores, lingüistas y académicos de todo el mundo. Por ello, proponemos el simposio “Traducción de Humor: Perspectivas Teóricas y Prácticas”, con el objetivo de crear un espacio para discusiones profundas e intercambio de experiencias sobre los desafíos y metodologías involucradas en esta práctica única. El humor es una forma de expresión universal, pero su significado e impacto varían según el contexto cultural y lingüístico. La transposición del humor de un idioma a otro exige más que habilidad técnica; requiere una comprensión profunda de las sutilezas culturales y de la percepción local del humor. La literatura académica sobre la traducción del humor se enriquece con autores de renombre que exploran el tema desde diferentes perspectivas. Salvatore Attardo (2002; 2014; 2020) es una referencia fundamental, ofreciendo ideas sobre cómo los elementos humorísticos pueden ser analizados y traducidos sin perder su efectividad. Su obra sobre los mecanismos del humor y la Teoría General del Humor Verbal (GTVH) proporciona un marco analítico que permite a los traductores entender cómo los diversos componentes del humor pueden ser adaptados entre idiomas y culturas. Estos análisis son particularmente útiles para comprender las decisiones tomadas durante el proceso traductológico y evaluar en qué medida son eficaces para mantener la esencia del humor original. Delia Chiaro (1992, 2010, 2012, 2017) es otra figura prominente en este campo, reconocida por sus estudios sobre el humor en contextos literarios, audiovisuales y digitales, así como por las dificultades inherentes a la traducción de juegos de palabras, chistes y referencias culturales. Sus trabajos resaltan la importancia de preservar la comicidad original, incluso cuando se sacrifica la literalidad del mensaje. Chiaro enfatiza que la traducción de humor en películas y series requiere enfoques creativos que permitan mantener el efecto cómico para audiencias internacionales, especialmente en la subtitulación y el doblaje. Esto subraya la relevancia de analizar las decisiones traductoras específicas para comprender cómo se mantiene o transforma la comicidad en diferentes contextos. Patrick Zabalbeascoa (2019, 2020, 2024) es otra referencia clave, especialmente en la traducción audiovisual. Discute la importancia de considerar el humor como un componente integrado a otras capas textuales y visuales, subrayando cómo las restricciones técnicas de medios como el cine y la televisión influyen en las estrategias de traducción. Su enfoque destaca la necesidad de equilibrar la fidelidad al material original con las adaptaciones culturales que garanticen que el humor sea efectivo para la audiencia objetivo. Este simposio busca reunir a estudiosos para discutir la complejidad de esta área y analizar las decisiones traductoras, con el fin de enriquecer el campo de estudio y ampliar la comprensión de los diferentes enfoques adoptados en la práctica traductora. Se abordarán investigaciones en inglés, portugués, español y francés, ofreciendo perspectivas diversas sobre las estrategias de traducción y adaptación del humor. La inclusión de diferentes medios, además de la literatura, permite explorar cómo los traductores se enfrentan a los desafíos impuestos por códigos visuales, contextos performativos y elementos multimodales que enriquecen la experiencia humorística y crean nuevas demandas para la práctica de la traducción.
PALABRAS CLAVE: Traducción de Humor; Adaptación Cultural; Humor Verbal; Juegos de Palabras y Chistes; Traducción Audiovisual.
LÍNGUA: FRANCÊS
TITRE: Traduction de l'Humour : Perspectives Théoriques et Pratiques
RESUMÉ: La traduction de l'humour est un domaine complexe et fascinant qui continue de défier les traducteurs, les linguistes et les chercheurs du monde entier. C'est dans cette optique que nous proposons le colloque “Traduction de l'Humour : Perspectives Théoriques et Pratiques”, avec l'objectif de créer un espace de discussions approfondies et d'échanges d'expériences sur les défis et les méthodologies impliqués dans cette pratique unique. L'humour est une forme d'expression universelle, mais sa signification et son impact varient selon le contexte culturel et linguistique. La transposition de l'humour d'une langue à l'autre nécessite plus que des compétences techniques ; elle exige une compréhension approfondie des nuances culturelles et de la perception locale de l'humour. La littérature académique sur la traduction de l'humour est enrichie par des auteurs de renom qui explorent le sujet sous différentes perspectives. Salvatore Attardo (2002 ; 2014 ; 2020), par exemple, est une référence fondamentale, offrant des idées sur la manière dont les éléments humoristiques peuvent être analysés et traduits sans perdre leur efficacité. Son ouvrage sur les mécanismes de l'humour et la Théorie Générale de l'Humour Verbal (GTVH) fournit un cadre analytique qui permet aux traducteurs de comprendre comment les différents composants de l'humour peuvent être adaptés d'une langue à l'autre et d'une culture à l'autre. Ces analyses sont particulièrement utiles pour comprendre les choix effectués au cours du processus traductif et évaluer dans quelle mesure ces décisions sont efficaces pour maintenir l'essence de l'humour original. Delia Chiaro (1992, 2010, 2012, 2017) est une autre figure importante dans ce domaine, reconnue pour ses études sur l'humour dans des contextes littéraires, audiovisuels et numériques, ainsi que pour les difficultés liées à la traduction des jeux de mots, des blagues et des références culturelles. Ses travaux soulignent l'importance de préserver la comédie originale, même lorsque la littéralité du message est sacrifiée. Chiaro insiste sur le fait que la traduction de l'humour dans les films et les séries nécessite des approches créatives permettant de préserver l'effet comique pour les publics internationaux, en particulier dans les sous-titrages et le doublage. Cela met en évidence la pertinence d'analyser les choix de traduction spécifiques pour comprendre comment la comédie est maintenue ou transformée dans différents contextes. Patrick Zabalbeascoa (2019, 2020, 2024) est une autre référence, avec un accent sur la traduction audiovisuelle. Zabalbeascoa discute de l'importance de considérer l'humour comme un élément intégré à d'autres couches textuelles et visuelles, soulignant comment les contraintes techniques des médias tels que le cinéma et la télévision influencent les stratégies de traduction. Son approche met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre la fidélité au matériel original et les adaptations culturelles pour garantir que l'humour reste efficace pour le public cible. Ce colloque vise à rassembler des chercheurs pour discuter de la complexité de ce domaine et analyser les choix de traduction, afin d'enrichir le champ d'étude et d'élargir la compréhension des différentes approches adoptées dans la pratique de la traduction. Pour cela, des recherches en anglais, portugais, espagnol et français seront examinées, offrant des perspectives variées sur les stratégies de traduction et d'adaptation de l'humour. L'inclusion de différents médias, au-delà de la littérature, permet d'explorer comment les traducteurs font face aux défis posés par les codes visuels, les contextes performatifs et les éléments multimodaux qui enrichissent l'expérience humoristique et créent de nouvelles exigences pour la pratique de la traduction.
MOTS-CLÉS: Traduction de l'Humour; Adaptation Culturelle; Humour Verbal; Jeux de Mots et Blagues; Traduction Audiovisuelle.
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Translation of Humor: Theoretical and Practical Perspectives
ABSTRACT: The translation of humor is a complex and fascinating field that continues to challenge translators, linguists, and scholars around the world. With this in mind, we propose the symposium “Translation of Humor: Theoretical and Practical Perspectives”, aiming to create a space for in-depth discussions and exchanges of experiences regarding the challenges and methodologies involved in this unique practice. Humor is a form of universal expression, but its meaning and impact vary according to the cultural and linguistic context. Transposing humor from one language to another requires more than technical skill; it demands a deep understanding of cultural nuances and the local perception of humor. The academic literature on humor translation is enriched by renowned authors who explore the subject from different perspectives. Salvatore Attardo (2002; 2014; 2020), for example, is a key reference, offering insights into how humorous elements can be analyzed and translated without losing their effectiveness. His work on the mechanisms of humor and the General Theory of Verbal Humor (GTVH) provides an analytical framework that allows translators to understand how different components of humor can be adapted across languages and cultures. These analyses are particularly helpful for understanding the choices made during the translation process and evaluating how effective these decisions are in preserving the essence of the original humor. Delia Chiaro (1992, 2010, 2012, 2017) is another prominent figure in the field, recognized for her studies on humor in literary, audiovisual, and digital contexts, and the challenges of translating puns, jokes, and cultural references. Her works highlight the importance of maintaining the original comedy, even when the literal message is sacrificed. Chiaro emphasizes that translating humor in films and TV series requires creative approaches that allow for the preservation of the comic effect for international audiences, especially in subtitling and dubbing. This highlights the relevance of analyzing specific translation choices to understand how comedy is maintained or transformed in different contexts. Patrick Zabalbeascoa (2019, 2020, 2024) is another reference, focusing on audiovisual translation. Zabalbeascoa discusses the importance of considering humor as an integrated component of other textual and visual layers, emphasizing how the technical constraints of media such as film and television influence translation strategies. His approach stresses the need to strike a balance between fidelity to the original material and cultural adaptations that ensure humor is effective for the target audience. This symposium seeks to bring together scholars to discuss the complexity of this field and analyze translation choices, aiming to enrich the field of study and expand the understanding of the different approaches adopted in translation practice. To this end, research in English, Portuguese, Spanish, and French will be addressed, offering diverse perspectives on humor translation and adaptation strategies. The inclusion of different media, in addition to literature, allows exploring how translators face the challenges posed by visual codes, performative contexts, and multimodal elements that enrich the humorous experience and create new demands for translation practice.
KEYWORDS: Translation of Humor; Cultural Adaptation; Verbal Humor; Puns and Jokes; Audiovisual Translation.
Tradução e Inteligência Artificial: fronteiras e possibilidades
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol
COORDENADORES:
Elaine Alves Trindade (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - (FAFICLA))
Stella Esther Ortweiller Tagnin (Universidade de São Paulo (FFLCH))
Rozane Rodrigues Rebechi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
TÍTULO: Tradução e Inteligência Artificial: fronteiras e possibilidades
RESUMO: O Simpósio “Tradução e Inteligência Artificial: Fronteiras e Possibilidades” propõe-se como um espaço de reflexão sobre as profundas transformações que a inteligência artificial (IA) tem promovido nos estudos, no ensino e na prática da tradução. As rápidas mudanças tecnológicas vêm alterando significativamente a área de tradução, ampliando as possibilidades de atuação para os profissionais. No entanto, questões relacionadas ao papel criativo e crítico do tradutor humano, à privacidade de dados e aos direitos autorais levantam debates importantes sobre o futuro da profissão. A crescente adoção de ferramentas de tradução automática neural, como Google Translate, DeepL e Bing, os softwares de legendagem automática e os assistentes de texto, como ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude, têm demonstrado grande potencial para aumentar a produtividade do trabalho tradutório. Contudo, essas inovações também suscitam preocupações éticas e desafios profissionais que precisam ser amplamente discutidos. Pesquisadores como Farrell (2023), Jiao et al. (2023), Mohamed et al. (2024), Koehn & Knowles (2017) e Kirov & Malamin (2022) têm explorado as complexas interações entre IA e tradução. Suas pesquisas destacam não apenas os avanços promovidos pelas tecnologias, mas também os desafios inerentes que exigem uma reavaliação das práticas profissionais e acadêmicas no campo da tradução. Entre os pontos enfatizados, estão as tensões entre a automação dos processos e a preservação de elementos culturais, estilísticos e criativos, que muitas vezes escapam aos algoritmos. Além disso, a adoção de IA tem exigido dos tradutores o desenvolvimento de novas competências, como a capacidade de revisar e pós-editar traduções automáticas, lidar com ferramentas baseadas em aprendizado de máquina e integrar soluções tecnológicas ao fluxo de trabalho. Essas demandas geram um impacto direto na formação de tradutores, exigindo que instituições acadêmicas adaptem seus currículos para preparar futuros profissionais em um mercado cada vez mais tecnológico e interdisciplinar. Por fim, o Simpósio reforça a importância de um diálogo contínuo entre academia e mercado, promovendo discussões colaborativas que não apenas abordem os avanços tecnológicos, mas também valorizem a essência ética, criativa e cultural da tradução. Ao reunir especialistas de diferentes áreas, o simpósio pretende analisar criticamente os caminhos da tradução mediada por IA e propor estratégias que equilibrem inovação e humanismo no campo tradutório.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução e IA; Interação humano-máquina; Ensino de tradução; Processos de revisão e pós-edição.
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Translation and Artificial Intelligence: Frontiers and Possibilities
ABSTRACT: The symposium "Translation and Artificial Intelligence: Frontiers and Possibilities" aims to provide a space for reflection on the profound transformations that artificial intelligence (AI) has introduced on translation studies, practices, and pedagogical approaches. In an era of unprecedented technological acceleration, AI has reshaped the field of translation, expanding professional opportunities for translators. However, issues related to the translator’s creative and critical role, data privacy, and copyright raise important debates about the profession’s future. The increasing adoption of neural machine translation tools, such as Google Translate, DeepL, and Bing, alongside automated subtitling software and advanced text assistants like ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude, shows immense potential to increased translation productivity. However, these innovations bring to light significant ethical concerns and introduce professional challenges that require thoughtful, comprehensive, and sustained discussion. Researchers such as Farrell (2023), Jiao et al. (2023), Mohamed et al. (2024), Koehn & Knowles (2017), and Kirov & Malamin (2022) have explored the complex interactions between AI and translation. Their studies highlight not only the technological advances enabled by AI but also the inherent challenges that demand a reevaluation of professional and academic practices in the translation field. Among the emphasized points are the tensions between process automation and the preservation of cultural, stylistic, and creative elements, which are often beyond the capability of algorithms to capture. Moreover, the integration of AI has urged the development of new skills among translators, such as the ability to revise and post-edit machine translations, handle machine learning-based tools, and incorporate technological solutions into their workflows. These demands have a direct impact on translator training, requiring academic institutions to adapt their curricula to prepare future professionals for an increasingly technological and interdisciplinary market. Finally, the symposium underscores the importance of continuous dialogue between academia and the industry, fostering collaborative discussions that not only address technological advancements but also emphasize the ethical, creative, and cultural essence of translation. By bringing together experts from various fields, the symposium aims to critically analyze the pathways of AI-mediated translation and propose strategies to balance innovation with humanism in the translation domain.
KEYWORDS: Translation and AI; Translation Technology; Human-Machine Interaction; Translation Education; Revision and Post-Editing Processes
Tradução e tradutores(as) de poesia
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Espanhol, Inglês.
COORDENADORES:
Andrea Cristiane Kahmann (Universidade Federal de Pelotas)
Vitor Alevato do Amaral (Universidade Federal Fluminense)
Marlova Gonsales Aseff (Universidade de Brasília)
TÍTULO: Tradução e tradutores(as) de poesia
RESUMO: A tradução de poesia no Brasil é amplamente reconhecida como um campo de excelência. A tradição iniciada com Gregório de Matos no período colonial e que mais tarde conta com expoentes como Machado de Assis e Castro Alves, adentra o Modernismo e nele se fortalece. Poetas como Manuel Bandeira e Guilherme de Almeida dedicam-se assiduamente à tradução, seguidos pelos/as do chamado segundo modernismo (Henriqueta Lisboa e Cecilia Meireles são exemplos) e pela Geração de 45 (tal como Péricles Eugênio da Silva Ramos e Idelma Ribeiro de Faria). Embora a tradução e a escrita de poesia original sempre se tenham enriquecido mutuamente, a partir dos anos 1960, observa-se um crescimento do ponto de vista editorial e um impulso significativo na renovação da literatura brasileira. É nesse momento que os irmãos Campos e outros poetas concretos começam a traduzir e teorizar sobre a tradução de poesia e novas perspectivas teórico-críticas são sedimentadas. Nos anos 1980, parte da crítica começa a reconhecer a tradução de poesia como integrante do sistema literário brasileiro. A linhagem de poetas-tradutores(as) que flerta com a criação literária consolida no Brasil uma tradição de tradução inventiva que convive de maneira pujante com a vertente mais tradicional da tradução poética. Este simpósio objetiva promover reflexões sobre a história da tradução e da retradução de poesia, seja no Brasil ou outros contextos, sobre o pensamento sobre a tradução poética, as atitudes e enfoques de tradutores/as e as relações entre tradução e criação em poesia. Acolher traduções comentadas de poesia e as de demais obras cujos projetos tradutórios sejam beneficiados por abordagens teóricas relacionadas à tradução de poesia estão também em nosso horizonte. Estudos de tradutores/as, de trabalho em redes e traduções colaborativas são possíveis temas a partir do qual podem ser propostas discussões, que podem vincular-se à Sociologia da Tradução e do Traduzir, discutindo condições de trabalho, sistemas de acreditação e análises de discursos públicos de e sobre tradutores/as e traduções de poesia (em ensaios, entrevistas, prefácios, notas, etc). Discussões sobre relações de poder, ideologias de tradutores/as e ética do traduzir são bem-vindas e podem abordar aspectos relacionados às identidades, sejam as nacionais, regionais ou as condicionadas por gênero, cor ou orientação sexual e suas interseccionalidades. Comunicações sobre agentes de tradução, mecenato, fluxos de tradução, bem como análises sobre o campo editorial que publica a poesia traduzida, estudos sobre coleções, edições e reedições importantes, bem como sobre paratextos de traduções de poesia são incentivadas, assim como a crítica de tradução e sobre a recepção da poesia traduzida. Também são aceitos estudos bibliométricos e sobre traduções de poesia em âmbito acadêmico, além de revisões sobre as abordagens didáticas da formação de tradutores/as de poesia e das competências e habilidades necessárias para a tarefa. As traduções analisadas, seja em língua de partida ou de chegada, podem ser em outros idiomas, desde que a comunicação seja apresentada em uma das línguas de trabalho do simpósio. Idiomas aceitos para comunicação neste simpósio: português, espanhol e inglês.
PALAVRAS-CHAVE: Poesia em tradução; Estudos sobre tradutoras/es; Processos; Perspectivas históricas e sociológicas; Formação de tradutoras/es de poesia.
Tradução Especializada e Encontros Culturais: Desafios e Oportunidades
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Alemão
COORDENADORES:
Monique Pfau (Universidade Federal da Bahia)
Cristiane Krause Kilian (Faculdade Instituto Ivoti)
Shirlei Tiara de Souza Moreira (Universidade Estadual de Feira de Santana)
TÍTULO: Tradução Especializada e Encontros Culturais: Desafios e Oportunidades
RESUMO: Ao observar a pesquisa de tradução especializada desde a publicação da clássica obra “Tradução Técnica e Condicionantes Culturais” de João Azenha Jr. em 1999, o campo de pesquisa cresceu e complexificou-se no Brasil e no mundo em uma tentativa de acompanhar a grande demanda de tradução de textos em diversos setores das sociedades contemporâneas. De lá para cá, a pesquisa na tradução especializada ganhou um novo status mostrando diferentes temáticas que abrangem estudos de terminologia e terminografia (Bevilacqua; Reuillard, 2011, Reuillard, 2014, Kilian, 2007), fraseologia (Nazzi Laranja; Molinari; Orenha-Ottaiano, 2021, Waquil, 2013), linguística de corpus (Rebechi, 2015), tecnologias da informação (Wang, 2022; Pym e Yu Hao, 2024), discurso (Schäffner, 2004; Frota, 2007), didática (Hurtado Albir, 2019; Neckel e Vasconcellos, 2023), estudos culturais (Bhabha, 1994) e estratégias tradutórias (Chesterman, 2022; Barbosa, 2020). Esses estudos se repercutem em variados gêneros textuais especializados a exemplo de localização de jogos (Mangiron, 2017, Malta e Barcelos, 2017), tradução jornalística (Bielsa e Bassnett, 2008; Gambier, 2006; Zipser e Polchlopek, 2014), tradução juramentada (Aubert, 1998 e 2005; Reichmann, 2015, Stolze, 1999) tradução de textos jurídicos (Barbarino; Oliveira, 2021, Tufaile, 2014), científicos (Pfau, 2016; Rey Vanin, 2016; Pisanski Peterlin, 2013; Udinal, 2023; Aixelá, 2016; Silva, 2019), turísticos (Sulaiman e Wilson, 2019; Argoni, 2012), gastronômicos (Rossato, 2015; Rebechi, Schabach e Freitag, 2021), entre outros. O objetivo desse simpósio é discutir as inovações, desafios e estratégias implicadas na tradução especializada dando destaque às nuanças interculturais e ao papel do/a tradutor/a, como mediador/a, intérprete e agente intercultural. A crescente demanda por traduções especializadas, reflexo do processo de globalização e localização, e a consequente internacionalização do conhecimento, junto a avanços e crenças sobre tradução automatizada e pós-edição, revela a necessidade de reunir pesquisadores/as, tradutores/as e profissionais para refletir sobre as suas especificidades. O Simpósio visa contribuir significativamente com a teoria e prática tradutória ao oportunizar o viés teórico-prático no estudo e análise dos textos especializados, uma proposta pertinente que favorece tanto o cenário local quanto o global.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução especializada; Gêneros textuais; Tecnologias da informação; Interculturalidade; Conhecimento especializado.
Tradução intralinguística, acessibilidade textual e linguagem simples
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês
COORDENADORES:
Silvana Maria de Jesus (Universidade Federal de Uberlândia)
Maria José Bocorny Finatto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
TÍTULO: Tradução intralinguística, acessibilidade textual e linguagem simples
RESUMO: Este simpósio abre um espaço de discussão sobre a tradução intralinguística (INTRA), que pode ser definida como a tradução que ocorre nos domínios internos de uma língua, trazendo diálogos com as ideias da acessibilidade textual e terminológica (ATT), as técnicas e/ou normativas de redação da Linguagem Simples (LS) e modalidades de linguagem inclusiva e/ou cidadã. Com os conceitos de Roman Jakobson (1959/1995), os estudos da tradução têm abrigado e discutido o tema da INTRA frente à tradução interlinguística e à tradução intersemiótica e multimodal. Nesse sentido, a INTRA tem provocado novos estudos, especialmente no cenário nacional, em estudos como os de Jesus (2024), Silva, Lagares e Maia (2024) e Finatto e Paraguassu (2022). No cenário internacional, os trabalhos de Karen K. Zethsen (2022a, 2022b) já ofereceram um importante marco e ponto de conexão com as propostas de redação, retextualização e mediação de comunicação associadas aos direcionamentos da LS. A discussão sobre acessibilidade tem se tornado cada vez mais relevante na busca de uma sociedade inclusiva que possibilite amplo acesso a lugares, serviços e produtos entre diferentes línguas, culturas, conhecimentos, épocas, religiões, gêneros textuais, signos e praticamente todo tipo de comunicação. Neste sentido, a chamada Linguagem Simples ou linguagem inclusiva é uma abordagem de retextualização que visa tornar acessível um texto para pessoas de diferentes níveis de saberes e condições, seja do ponto de vista cultural, neurológico, de capacidades e habilidades, entre outros. Essa abordagem requer o trabalho especializado de profissionais qualificados e métodos específicos para a produção textual adequada a cada contexto e cada leitor. Desta forma, este simpósio pretende agregar trabalhos que possam apresentar e discutir definições, classificações, ramificações, interações, aplicações e experiências em torno da INTRA, da ATT e das práticas e técnicas de reformulação de textos associadas às ideias da LS e da promoção de diferentes acessibilidades. Referências FINATTO, Maria José B., PARAGUASSU, Liana B. (Org.). Acessibilidade Textual e Terminológica. Uberlândia: EDUFU, 2022. JAKOBSON, Roman. Os aspectos linguísticos da tradução. 20.ed. In: Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1995. JESUS, Silvana Maria de. Investigando a tradução intralingual. Cadernos de Tradução, Porto Alegre, número 50, 2024, p. 88-102. SILVA, Adelaide H.P., LAGARES, Xoan C., MAIA, Marcus (Org). Linguagem simples para quem? - A comunicação cidadã em debate. 1a ed. Campinas: Ed. da Abralin, 2024. ZETHSEN, Karen K. Tradução Intralingual: uma tentativa de descrição. Cadernos de Tradução, Porto Alegre, UFRGS, n. 48, p. 149-174, 2022. (Trad. Laura Pinto Berwanger). Disponível em https://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdetraducao/issue/view/4664 . Acesso em 27 de outubro de 2023. (do original em inglês de 2009). ZETHSEN, K. K.; HILL-MADSEN, A. O lugar da tradução intralingual nos Estudos da Tradução: uma discussão teórica. Cadernos de Tradução, Porto Alegre, UFRGS, n. 48, p. 175-196 2022. (Trad. Gabriel Luciano Ponomarenko). Disponível em https://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdetraducao/issue/view/4664 . Acesso em 27 de outubro de 2023. (do original em inglês de 2016).
PALAVRAS-CHAVE: Tradução intralinguística; Acessibilidade textual e terminológica; Linguagem simples.
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Intralingual translation, textual accessibility and plain language
ABSTRACT: This symposium offers a space of discussion on the field of intralingual translation (INTRA), which can be defined as the translation that occurs in the internal domains of a language, bringing together the ideas of textual and terminological accessibility (ATT), the techniques and standards of Plain Language (PL) writing, and inclusive & citizen language modalities. Within the concepts of Roman Jakobson (1959/1995), translation studies have embraced and discussed the theme of INTRA concerning interlinguistic translation and intersemiotic and multimodal translation. In this sense, INTRA has provoked new studies in the national scenario such as those by Jesus (2024), Silva, Lagares, and Maia (2024), and Finatto and Paraguassu (2022). In the international field, the work of Karen K. Zethsen (2022a, 2022b) has already provided an important milestone and connection point with the proposals for writing, reformulation, and communication mediation associated with the directions of PL. The discussion on accessibility has become increasingly relevant in the search for an inclusive society that enables broad access to places, services, and products across different languages, cultures, knowledge, religions, textual genres, signs, and practically every type of communication. In this sense, the so-called Plain Language or inclusive language is an approach that aims to make a text accessible to people of different levels of knowledge and conditions, within a cultural, neurological, capacity & skill point of view, among others. This approach requires the specialized work of qualified professionals and specific methods for producing texts appropriate to each context and each reader. In this way, this symposium aims to bring together works that discuss definitions, classifications, ramifications, interactions, applications, and experiences around INTRA, ATT, and the practices and techniques of reformulation of texts associated with the ideas of PL and the promotion of different accessibilities. Referências FINATTO, Maria José B., PARAGUASSU, Liana B. (Org.). Acessibilidade Textual e Terminológica. Uberlândia: EDUFU, 2022. JAKOBSON, Roman. Os aspectos linguísticos da tradução. 20.ed. In: Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1995. JESUS, Silvana Maria de. Investigando a tradução intralingual. Cadernos de Tradução, Porto Alegre, número 50, 2024, p. 88-102. SILVA, Adelaide H.P., LAGARES, Xoan C., MAIA, Marcus (Org). Linguagem simples para quem? - A comunicação cidadã em debate. 1a ed. Campinas: Ed. da Abralin, 2024. ZETHSEN, Karen K. Tradução Intralingual: uma tentativa de descrição. Cadernos de Tradução, Porto Alegre, UFRGS, n. 48, p. 149-174, 2022. (Trad. Laura Pinto Berwanger). Disponível em https://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdetraducao/issue/view/4664 . Acesso em 27 de outubro de 2023. (do original em inglês de 2009). ZETHSEN, K. K.; HILL-MADSEN, A. O lugar da tradução intralingual nos Estudos da Tradução: uma discussão teórica. Cadernos de Tradução, Porto Alegre, UFRGS, n. 48, p.175-196 2022. (Trad. Gabriel Luciano Ponomarenko). Disponível em https://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdetraducao/issue/view/4664 . Acesso em 27 de outubro de 2023. (do original em inglês de 2016).
KEYWORDS: Intralingual translation; Textual and terminological accessibility; Plain language.
Tradução literária, exofonia e hibridismo nas Literaturas do Mundo
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Alemão, Francês
COORDENADORES:
Gerson Roberto Neumann (UFRGS)
Luciana Wrege Rassier (Universidade Federal de Santa Catarina)
Marianna Ilgenfritz Daudt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul.)
TÍTULO: Tradução literária, exofonia e hibridismo nas Literaturas do Mundo
RESUMO: A escrita exofônica é um fenômeno que se caracteriza pelo uso de uma língua diferente da materna na escrita literária e se insere no cenário das literaturas do mundo (Ette, 2022) como um fenômeno de deslocamento e hibridismo, como uma escrita “em tradução” (Molloy, 2018). A tradução de obras exofônicas apresenta características específicas, pois envolve a transposição de experiências que envolvem o contato interlinguístico e, muitas vezes, buscam uma marcação pela estranheza e/ou pela estrangeiridade. A tradução, por sua natureza dialógica e heterogênea, constitui um espaço privilegiado para a análise de escritas híbridas e exofônicas, justamente porque sua dinâmica envolve a busca pela estrangeiridade que já habita o interior das próprias línguas maternas (Berman, 2007). Ao lidar com deslocamentos linguísticos e culturais, a tradução – essa “reinvenção cheia de perguntas” (CASSIN, 2022) – não apenas os evidencia, mas também os problematiza de forma crítica e, em seu trânsito entre línguas, a tradução não apenas reflete a complexidade dos processos exofônicos, mas também potencializa sua ressignificação em novos contextos culturais, ampliando o alcance dessas obras e promovendo um novo olhar sobre sua feição híbrida. A partir dessa perspectiva, o conceito de literaturas do mundo, conforme desenvolvido por Ette (2022), ganha relevância ao destacar a natureza fluida e múltipla das origens literárias, que transcendem fronteiras temporais, linguísticas e culturais. Para Ette, as literaturas não possuem uma origem única, mas sim inúmeras origens que se multiplicam constantemente, formando sistemas de signos descontínuos e interligados, como um arquipélago de significados. No coração dessas literaturas, encontra-se a intertextualidade pulsante que conecta o passado e o presente de formas imprevisíveis, abrindo espaço para a criação se sentidos. Essas dinâmicas se alinham com as questões de deslocamento e hibridismo que marcam a escrita exofônica, e os textos literários figuram como entidades em trânsito, capazes de se deslocar por entre múltiplas origens e identidades. Nesse sentido, o presente Simpósio Temático tem como objetivo discutir a intersecção entre a tradução literária e a exofonia, investigando como a condição exofônica dos textos afeta suas traduções e como os tradutores lidam com os deslocamentos linguísticos e culturais que envolvem essas obras. Diante do crescente interesse pelos fenômenos da mobilidade linguística e da literatura transnacional, busca-se promover um diálogo entre pesquisadores que analisam textos exofônicos em diferentes contextos culturais e suas traduções. Ao reunir pesquisas situadas na confluência entre tradução literária e exofonia, espera-se fomentar um debate sobre as implicações estéticas, políticas e culturais da tradução dessas obras e, desta forma, examinar os desafios específicos que surgem na transposição de tais textos, bem como as estratégias adotadas pelos tradutores para lidar com a tensão entre o deslocamento linguístico e a identidade. A exofonia, enquanto posicionamento criativo, sugere o desvanecimento das fronteiras – geográficas, identitárias, literárias – criando um espaço fluido e em movimento. Esse espaço, um "entre-lugar" (Bhabha, 1998), não é fixo nem determinado, e é onde o significado se transforma, permitindo que signos culturais sejam apropriados, recontextualizados e lidos de novas maneiras, refletindo as dinâmicas da literatura em trânsito.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução literária; Exofonia; Hibridismo linguístico; Literaturas do mundo; Literatura em trânsito.
Tradução Transcultural e Construção de Imagens Culturais pela/na Tradução
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Espanhol
COORDENADORES:
Aline Cantarotti (Universidade Estadual de Maringá)
Aline Yuri Kiminami (Universidade Estadual do Paraná - Campus Apucarana)
TÍTULO: Tradução Transcultural e Construção de Imagens Culturais pela/na Tradução
RESUMO: O Simpósio “Tradução Transcultural e Construção de Imagens Culturais pela/na tradução” propõe um debate sobre como a tradução influencia a forma como culturas são representadas e percebidas em contextos globais. Considerando a perspectiva de mundo global sem fronteiras, no qual há o consumo e o cruzamento de diferentes culturas – até mesmo na construção de um certo hibridismo, esse simpósio justifica-se pela sempre necessária discussão sobre tal tema, que é tão caro aos Estudos Tradutórios. A partir das reflexões de Venuti (2019), Milton (1996, 2008), Tymoczko (2000, 2010) e Esteves (2009, 2014), o simpósio examina como estratégias tradutórias, tais como domesticação, estrangeirização e amortecimento, podem moldar identidades culturais e afetar a recepção de textos em contextos diversos, e como essas e outras estratégias tradutórias direcionam a recepção de textos e contribuem para a construção de imaginários culturais. Além disso, incentivamos trabalhos que discutam como as escolhas tradutórias impactam a circulação de textos e a formação de cânones literários internacionais. Perspectivas que reflitam sobre como formar tradutores sob a égide da prática da tradução transcultural, e ainda experiências de tradução transcultural em tempos de tecnologia e Inteligência artificial são pontos de interesse desse simpósio. Nossa proposta busca explorar os múltiplos fatores que influenciam a tradução transcultural, desde políticas editoriais, passando por estratégias linguísticas bem como as mudanças aceleradas nas práticas tradutórias na modernidade, destacando seu papel na mediação entre culturas e na renovação das formas de representação cultural. Frente a esses desafios, discute-se a possibilidade de uma “ética da diferença” (Venuti, 2019), que resista às formas de apagamento cultural e favoreça uma abordagem crítica e pluralista na tradução transcultural e, em especial, humana. O simpósio visa, assim, fomentar o debate sobre a responsabilidade do tradutor e os impactos socioculturais de suas escolhas, reconhecendo que a tradução não é neutra, mas um espaço de negociação de poder, identidade e representação. Tendo em vista o contexto global dessa proposta, pesquisas em língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola serão acolhidas.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução transcultural; Representação cultural; Circulação de textos; Ética na tradução; Estratégias tradutórias.
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Transcultural Translation and the Construction of Cultural Images by/in Translation
ABSTRACT: The symposium “Transcultural Translation and the Construction of Cultural Images by/in Translation” proposes a debate on how translation influences the way cultures are represented and perceived in global contexts. Considering the perspective of a global world without borders, in which there is the consumption and crossing of different cultures - even in the construction of a certain hybridity, this symposium is justified by the always necessary discussion on this topic, which is so dear to Translation Studies. Based on the reflections of Venuti (2019), Milton (1996, 2008), Tymoczko (2000, 2010) and Esteves (2009, 2014), the symposium examines how translation strategies such as domestication, foreignization and damping can shape cultural identities and affect the reception of texts in diverse contexts, and how these and other translation strategies direct the reception of texts and contribute to the construction of cultural imaginaries. We also encourage papers that discuss how translation choices impact the circulation of texts and the formation of international literary canons. Perspectives that observe how translators are trained considering cross-cultural translation practice, as well as experiences of cross-cultural translation in technological era and artificial intelligence are points of interest for this symposium. Our proposal looks forward to exploring the multiple factors that influence transcultural translation, from editorial policies to linguistic strategies, as well as the accelerated changes in translation practices in modernity, highlighting their role in mediating between cultures and renewing forms of cultural representation. Considering these challenges, we discuss the possibility of an “ethics of difference” (Venuti, 2019), which resists forms of cultural erasure and favors a critical and pluralistic approach to transcultural and, in particular, human translation. The symposium thus aims to foster the debate on the translator's responsibility and the socio-cultural impacts of their choices, recognizing that translation is not neutral, but a space for negotiating power, identity and representation. In view of the global context of this proposal, research in Portuguese, English and Spanish will be welcomed.
KEYWORDS: Cross-cultural translation; Cultural representation; Circulation of texts; Ethics in translation; Translation strategies.
Tradução, cultura e alteridade: qual o caminho frente à Inteligência Artificial?
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês, Francês, Espanhol.
COORDENADORES:
Adriana Zavaglia (Universidade de São Paulo)
Sabrina Moura Aragão (Universidade Federal de Santa Catarina)
Renata Tonini Bastianello (Universidade de São Paulo)
TÍTULO: Tradução, cultura e alteridade: qual o caminho frente à Inteligência Artificial?
RESUMO: Considerando a pluralidade de perspectivas existentes sobre tradução e cultura, propomos refletir sobre essa relação no mundo atual, em que a inteligência artificial (IA) promove avanços significativos, necessários e congruentes, mas ao mesmo tempo, por um hibridismo, deixam a ver um imenso fosso entre o artificial e o humano. Evidentemente, a integração é inescapável, mas em termos de formação (cursos de tradução ou voltados à tradução) e verificação humana (atuação de profissionais), parece-nos que a tradução como alteridade, ou seja, como Outro, tem se reduzido a um mesmo, em que a relação entre fonte e alvo por um sujeito não se coloca mais. Nesse sentido, nosso principal objetivo é compreender e debater o lugar da tradução, da cultura e da alteridade na contemporaneidade. Interessa-nos, assim, trabalhos que tratem de alteridade, cultura e tradução, sem importar o objeto de estudo ou o contexto da pesquisa ou perspectiva, desde que tragam à baila um diálogo relacionado à Inteligência Artificial. Nesse sentido, o que resta de alteridade, uma vez que esta é posta em relação às diferentes culturas, em trabalhos realizados integral ou parcialmente, de forma assistida, por IA? Qual o lugar que ocupa o sujeito tradutor, temporal e espacialmente localizado, nesse contexto? Como dialogar com Humboldt, Goethe, Schleiermacher, Benjamin, Nida, Fiódorov, Vinay e Darbelnet, Kade, Vázquez-Ayora, Vermeer, Oksaar, Reiss, Nord, Berman, Venuti, House, Aixelá, Aubert, Azenha, Castro, Campos, Nadal e Asensio, para não citar outros, na atualidade? E, no contexto da tradução técnica e especializada, o que dizer do enorme arcabouço de memórias de tradução criado por pessoas humanas utilizado hoje no mercado por grandes agências, sem direitos autorais, numa invisibilização e precarização do trabalho de tradução? Em tradução literária, em que medida as ferramentas de IA têm atuado como coadjuvantes do trabalho, considerando a transmídia e a autopublicação? Em tradução juramentada, como o esforço do sujeito tradutor em guardar a sua subjetividade em relação de alteridade, mesmo frente aos livros eletrônicos das juntas comerciais, é um esforço para o humano prevalecer sobre o artificial? Nesse sentido, questionamo-nos: quais noções e conceitos de alteridade estão por detrás dessas práticas e pesquisas, em tradução literária, técnica, juramentada, especializada ou multimodal? Tais questionamentos visam a reunir pesquisas diversas sobre o tema – convergentes ou divergentes – e situá-las em um espaço de discussão sobre a alteridade em tempos de IA. O debate, nesse contexto, poderá estimular novas argumentações, com o intuito de clarificar, desenvolver e expandir as investigações em curso sobre cultura, alteridade e tradução em meio aos progressos da inteligência artificial.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução; Cultura; Alteridade; Inteligência artificial.
Tradução, pós-colonialismo e desconstrução: as muitas tarefas das/os tradutores/as em diferença
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português, Inglês
COORDENADORES:
Aryadne Bezerra de Araújo (Universidade Estadual de Santa Cruz)
Élida Paulina Ferreira (Universidade Estadual de Santa Cruz)
Nivana Ferreira da Silva (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia)
TÍTULO: Tradução, pós-colonialismo e desconstrução: as muitas tarefas das/os tradutores/as em diferença
RESUMO: No local de um forte legado cultural africano que espraia seu rizoma no lado de cá do Atlântico, observamos campo fértil e privilegiado de um ininterrupto processo de tradução a partir de uma trama "poética da Relação", para falar com Édouard Glissant (1990), na encruzilhada de identidades a confluir-se, chocar-se e traduzir-se em rastros de diferença. No estado da Bahia e, mais precisamente, em Salvador, performa-se, de forma emblemática, o processo de identificação pela diferença que Stuart Hall (1994) opôs ao anseio da identidade cultural unificada, constatando ser sempre diferente e adiada a relação com o passado, assim como, acrescentemos, é a relação da tradução com o seu "original". O passado ao qual nos dirigimos, em busca de uma origem, uma "raiz", uma identidade, um sentido sempre se apresenta após a ruptura, a separação, o après-coup, em diferimento (Hall, 1994), atestando uma condição que se assemelha mais a um rizoma – termo que Glissant (1990) toma de empréstimo de Deleuze e Guattari para dizer que a identidade não está numa "raiz totalitária", mas em devir na "Relação" com o Outro. Essa condição rizomática tem lugar na Bahia, como Hall (1994) observou a propósito do Caribe, "onde assimilações e sincretismos foram [e são] negociados" (Hall, 1994, p. 234). Observamos, portanto, um movimento tradutório como o fio condutor de qualquer representação que mira a enunciação de um "eu"/um "nós" caribenha/o(s), latino-americana/o(s), brasileira/o(s), baiana/o(s). É também na reflexão de Jacques Derrida que diferença e tradução são noções-chave sem as quais não seria possível perscrutar os sentidos de língua e identidade. Em seu texto seminal para as reflexões que promovem o encontro entre Desconstrução e o pensamento anticolonial, a saber, "O monolinguismo do outro", Derrida (2001, p. 39) assevera: "eu não tenho senão uma língua e ela não é minha [...]. A minha língua, a única que me ouço falar e me ouço a falar, é a língua do outro". Sabemos que essas sentenças portam o passado colonial que constitui a subjetividade franco-argelina do filósofo, marcada não por uma plenitude circunscrita, mas pela borda, pelo espaçamento e diferimento que o hífen grifa: nem francês, nem argelino, mas entre os dois pontos, entre as costas africana e europeia. Paralelamente, afirma-se a necessidade de tradução na relação com uma língua que não é "própria" e com o que se enuncia e testemunha nessa (e com essa) língua, uma vez que há alteridade, irrompendo na différance (Derrida, 1991) - diferença e adiamento do sentido do ser, da identidade, de uma origem sempre em devir. Mirando um diálogo com trabalhos que contemplem a tradução a partir de uma perspectiva desconstrutivista e/ou pós-colonial, convidamos pesquisadoras/es a partilhar suas reflexões em torno da tarefa tradutória - impossível e necessária -, de corpos textuais que coadunam experiências coletivas e/ou individuais, testemunhadas no corpo coletivo de uma língua, atestando a alteridade nos diversos níveis da escrita e das línguas - no dito "original" e na tradução.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução; Différance; Representações; Identidade; Língua do outro.
LÍNGUA: INGLÊS
TITLE: Translation, post-Colonialism, and deconstruction: the many tasks of translators in difference
ABSTRACT: In a place of a strong African cultural legacy that spreads its rhizome on this side of the Atlantic, we observe a fertile and privileged field of an uninterrupted process of translation, woven through a "poetics of Relation" – to borrow Édouard Glissant's (1990) term – at the crossroads of identities that converge, clash, and translate themselves into traces of difference. In the state of Bahia, more specifically in Salvador, the process of identification through difference – opposed by Stuart Hall (1994) to the desire for a unified cultural identity – is performed in an emblematic way, revealing that the relationship with the past is always different and deferred, just as, we might add, is the relationship between translation and its "original". The past to which we turn in search for an origin, a "root", an identity or a meaning always presents itself only after rupture, separation, in après-coup, in deferral (Hall, 1990), attesting to a condition that more closely resembles a rhizome – a term that Glissant (1990) borrows from Deleuze and Guattari to suggest that identity is not in a "totalitarian root" but in a state of becoming, in "Relation" with the Other. This rhizomatic condition takes place in Bahia, as Hall (1994) observed regarding the Caribbean, "where assimilations and syncretisms were [and are] negotiated" (Hall, 1994, p. 234). Therefore, we observe a translational movement as the guiding thread of any representation that aims at the enunciation of an "I"/ "we" from the Caribbean, Latin America, Brazil, and Bahia. It is also in Jacques Derrida's reflections that difference and translation emerge as key notions, without which it would be impossible to explore the meanings of language and identity. In his seminal text, that promotes the encounter between Deconstruction and anticolonial thought – Monolingualism of the Other – Derrida (2001, p. 39) asserts: "I have only one language, and it is not mine [...]. My language, the only one I hear myself speak and hear myself speaking, is the language of the other". We know that these sentences carry the weight of the colonial past that shapes the philosopher's Franco-Algerian subjectivity – marked not by a circumscribed plenitude, but by borders, spacing, deferral, as highlighted by the hyphen: neither French nor Algerian, but in-between both "identities", in between the African and European coasts. Simultaneously, the necessity of translation is affirmed in relation to a language that is not "one's own" and to what is enunciated and witnessed in (and through) this language, since alterity is always at play, erupting into différance (Derrida, 1991) – difference and deferral that continuously unsettles the meaning of being, identity, and origin that is always in the process of becoming. Seeking a dialogue with works that explore translation from a deconstructivist and/or post-colonial perspective, we invite researchers to share their reflections on the impossible and necessary translation of texts that intertwine collective and/or individual experiences, witnessed in the collective body of a language, attesting the otherness at various levels of writing and language, both in the so-called "original" and in translation.
KEYWORDS: Translation, Différance, Representations, Identity, Language of the Other
Tradução, vida e alteridade: (re)escrever o outro, ler o outro da escrita
IDIOMA(S) ACEITO(S) NAS ATIVIDADES DO SIMPÓSIO: Português
COORDENADORES:
Mauricio Mendonça Cardozo (Universidade Federal do Paraná)
Flavia Trocoli Xavier da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Patricia Peterle Figueiredo Santurbano (Universidade Federal de Santa Catarina)
TÍTULO: Tradução, vida e alteridade: (re)escrever o outro, ler o outro da escrita
RESUMO: No contexto específico dos Estudos da Tradução, assim como em diversos campos dos Estudos Literários que dialogam com áreas como a filosofia contemporânea, a história, a sociologia, a antropologia e a psicanálise, a pesquisa sobre tradução literária nos últimos anos vem se orientando na direção de uma compreensão da prática tradutória como atividade de ordem crítica, de natureza relacional (Renken, 2022) e transformadora, e do texto traduzido como objeto que, para além de representar um modo de escrita do outro e de sua sobrevida, também se constitui, na dimensão própria de sua alteridade, como um outro da escrita e, portanto, como forma singular de vida (Cardozo, 2017). Diante de tais pressupostos, o pesquisador da tradução (em especial no campo da tradução literária) é instado a extrair implicações teóricas e críticas dessa dupla manifestação de alteridade: da alteridade na tradução (nos termos de uma prática de representação do outro) e da alteridade da tradução (nos termos de uma prática produtora de um texto que é sempre outro). Isso significa, para mencionar aqui apenas uma consequência mais óbvia e imediata, que as diferenças entre texto traduzido e texto original não poderiam mais ser reduzidas a uma mera manifestação estigmatizante de negatividade – como tentativa incessantemente frustrada de dizer o outro de novo; é preciso compreender essas diferenças também como o resultado de um esforço de escuta e partilha (Peterle, 2023), especialmente do ponto de vista do que elas são capazes de fundar como formas de insistência da vida (Trocoli, 2024), como expressão de um modo singular de ler e (re)escrever o outro, mas, também, de um modo de inscrevê-lo no(s) tempo(s) desse gesto de reescrita. Este simpósio oferece um espaço para discussões de natureza teórico-crítica que emergem da discussão da tradução literária, a um só tempo, como prática atravessada pelas mais diversas manifestações da questão da alteridade e como objeto constitutivo de uma forma singular de vida, com o objetivo de discutir as limitações e possibilidades disso que poderíamos chamar de uma condição contemporânea da tradução. São encorajadas, igualmente, contribuições que, por meio de estudos de caso, procurem dar maior consequência crítica aos pressupostos delineados por esta proposta, seja ao examinarem a tradução literária como modo de (re)escrita do outro, seja ao enfrentarem o desafio de ler o texto traduzido em sua condição de outro da escrita. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFCIAS CARDOZO, Mauricio Mendonça. Da Morte, da Vida e dos Tempos de Morte e de Vida da Tradução. Revista Letras, n. 95, 2017, p. 46-59. PETERLE, Patrícia. À escuta da poesia: ensaios. Belo Horizonte: Relicário, 2023. RENKEN, Arno. Je ne sais plus ce que je lis: la traduction, le texte, la relation (et la promesse d’un autre printemps). Studi di estética, n. 22, 2022, p.19-37. Disponível em: http://journals.mimesisedizioni.it/index.php/studi-di-estetica/article/view/949/1389
PALAVRAS-CHAVE: Tradução e alteridade; Tradução e vida; Tradução e relação.






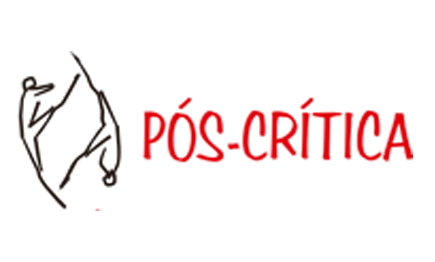


Criada em 03 de abril de 1992, em Campinas, a ABRAPT surgiu durante o encontro do grupo Regional de Trabalho de Tradução da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL). Portanto, a ABRAPT se constitui como uma associação de caráter científico, sem fins lucrativos, que congrega professores/as universitários/as, estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores/as de tradução e interpretação.
Contato
Para dúvidas sobre o ENTRAD: entrad2025@gmail.com